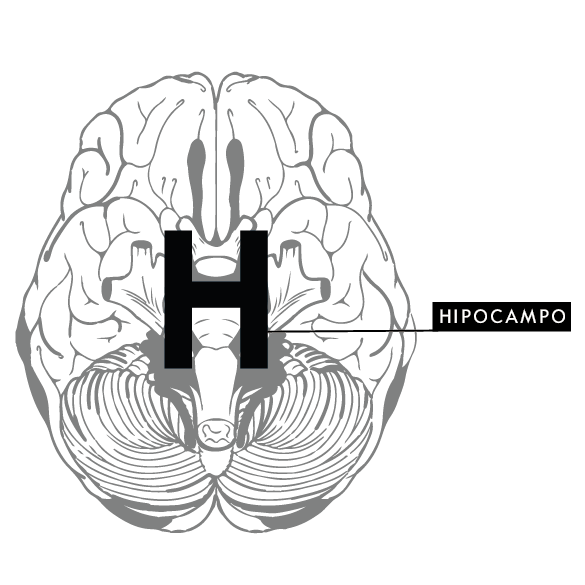Geovanni Lima é performer e artista visual, vive e trabalha em Vitória (ES). Sua obra investiga as relações entre corpo, sociedade e subjetividades, articulando questões sobre os marcadores que seu corpo sofre enquanto homem negro, gordo e LGBTQIA+, em íntimo diálogo com seus acervos memoriais e dentro de uma concepção de performance que amalgama sua trajetória enquanto artista com sua biografia.
Seu trabalho parte do corpo e usa, majoritariamente, o próprio corpo como material, mas se concretiza também em outros suportes. Artista, produtor cultural e pesquisador, atualmente mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, Lima tem construído uma sólida carreira enquanto performer, tendo participado de eventos como XI Encuentro Internacional do Hemispheric Institute, da New York University – NYU (2019), p.Arte nº 42, da Plataforma de Performance Arte no Brasil (2019) e Residência e Festival Corpus Urbis – 4º Edição – Oiapoque, realizado pelo Coletivo Tenso(A)tivo com recursos do Rumos Itaú Cultural (2018). Como produtor cultural, é um dos propositores dos projetos Performe-se – Festival de Performance e do Festival Lacração, ambos realizados com recursos da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo.
As imagens que ilustram essa entrevista são o terceiro volume da série Click ou isto não é um preto, produção atual do artista e que foram gentilmente cedidas para a publicação.
Sua produção em performance e artes visuais fricciona de forma muito nítida arte e vida, em um processo bastante íntimo de revirar as recordações e cadernos para se constituir e construir obras. Como você entende as relações entre processo artístico, memória, experiência e invenção? Partindo do exercício de espera performado em Involucrum, obra de 2015, em que a própria pele se constrói no ato performativo, de que forma a sua constituição enquanto sujeito negro dialoga com as obras?
Eu tenho olhado com bastante cuidado para esse lugar de fricção entre o que é a arte e o que é a vida, sobretudo porque tenho entendido que o resultado dessa fricção é altamente nutritivo tanto para a minha produção enquanto sujeito, que vive em sociedade, quanto para as proposições e trabalhos que venho desenvolvendo no ambiente da arte. Embora quando ditos ou escritos pareçam campos distintos, tenho percebido o que é arte e o que é vida de maneira emparelhada. Ambos os campos se formam e se transformam a partir de minha condição enquanto sujeito preto, gordo e gay, nascido e criado no Brasil, país estruturalmente racista, gordofóbico e LGBTfóbico.
Desde muito cedo eu construí e executei diversas ações corporais em resposta a essa conjuntura na qual eu estou inserido. Ações que se deram no meu corpo, e que eram a forma como eu inventava possibilidades para viver, ou melhor, a forma pela qual eu me produzia no mundo e em resposta a ele. Um exemplo disso é, no final dos anos noventa, quando na escola onde estudava no interior do Espírito Santo, a classe toda passou a se referir a mim como “Geovanni Fedorento”, atribuindo-me um mau odor que impregnava o ambiente e que tinha sua origem desconhecida. Após muitos meses vivenciando essa situação extremamente constrangedora, decidi respondê-la: diante de toda a classe, inclusive com a presença da professora – branca – que nunca interferiu, me pus a utilizar três frascos inteiros de desodorantes aerossóis. Me lembro de todos em silêncio e do cheiro igualmente forte ao anterior que impregnou o ambiente. Depois dessa utilização, nunca mais me chamaram de “Geovanni Fedorento”.
Vinte anos depois, na performance Exercícios para se lembrar, branqueamento ou ação repetida de cuidar, de 2019, eu retomo essa experiência. Esse trabalho é executado em três atos: no primeiro, reitero a ação de utilização dos desodorantes até que eles se esgotem, aplicando-os sobre meu corpo nu; no segundo, diante da irritação causada em minha pele por essa utilização, recupero uma prática desenvolvida por minha mãe naquela época e aplico sobre a pele irritada uma espécie de unguento – azeite extra-virgem/óleo associados a arnica macerada – com intuito de a acalmar, e no terceiro, finalizo a performance com um banho de ervas – as mesmas que minha avó paterna indicou que minha mãe utilizasse para que as feridas em minha axilas, causadas pelos desodorantes, fechassem.
Veja bem: as memórias que construí e as diversas experiências que vivenciei são as principais ferramentas dentro de meu processo de criação atualmente. É claro que como artista acesso outros conteúdos e chaves que auxiliam nessa produção, mas tenho me interessado especialmente em retomar essas memórias – que na maioria das vezes, além de comporem meu consciente como indivíduo e artista, estão descritas em cadernos e diários que produzi na adolescência –, uma vez que, mesmo não tendo a “consciência” de que eu era um ser racializado, elas já denunciavam o estado extremamente violento a que o meu corpo e todos os similares a ele estavam – e ainda estão – submetidos.
Digo deste interesse atual, porque a performance Involucrum, que você cita – um trabalho de longa duração em que dois corpos pretos estão na ação, um que recebe as diversas camadas de tintas, imóvel, e um outro que, a partir da aplicação dessas camadas, produz o que chamo de pele-involucrum e que, enquanto a gera, observa atentamente sua criação – diferentemente da performance Exercícios para se lembrar, branqueamento ou ação repetida de cuidar, foi produzida em um período onde a consciência de que sou um homem preto estava sendo formada, sobretudo porque no momento de sua execução minhas questões como artista perpassam os questionamentos aos padrões corporais hegemônicos estabelecidos socialmente, mas amplos, não diretamente abordando questões pertinentes ligadas à raça.
Este trabalho [Involucrum] é interessante porque igualmente acontece durante sua realização o exercício de observar – atentamente – os fatos que me construíram, que adiciona nuances da negritude em minha produção. À medida que em minha prática artística retomo os comportamentos, imagens e memórias que vivenciei e desenvolvo os trabalhos, reflito e entendo como meu corpo foi formado e a teia social na qual estou inserido.
A performance coloca, como elemento incontornável, o corpo. E suas obras sublinham a presença da pele no corpo, através da nudez ou do figurino “cor de pele”, ou ainda do ato de cobrir a pele com tinta, cola, óleo, água de ervas. Como seu corpo – este material, mas também o subjetivo – tem sido construído e desconstruído no percurso de carreira traçado até agora?
Acho estas duas palavras – construção e desconstrução – bastante instigantes, inclusive em minha pesquisa de mestrado tenho trabalhado os comportamentos, ações e performances que pratiquei, seja na vida cotidiana, social ou na arte, que foram importantes para a construção do corpo que possuo, sobretudo porque entendo que voltar a essas experiências me possibilita construir, desconstruir meu corpo. Não as vejo, pensando em seus respectivos significados atribuídos pelos dicionários, como antagônicas em minha prática, acredito que as duas constituem um único processo. Até as escrevo de maneira conjunta adicionando colchetes a sua grafia: [des]construir.
Neste sentido, tenho me debruçado sobre o conceito de “comportamento reiterado” do Richard Schechner e na consciência de que todas as coisas são ou podem ser analisadas como performances, reiterando no campo da arte as diversas ações que vivenciei e que considero como experiências fundadoras do meu corpo – físico e subjetivo. À medida que as retomo, as reposiciono em minha subjetividade, me relacionando de maneira diferente conseguindo [des]construir aspectos subjetivos que elas sustentavam/sustentam.
Um exemplo disso é a performance Epiderme social, de 2015. Para esse trabalho revisito os xingamentos que recebi em decorrência de características físicas e subjetivas, durante a infância/adolescência, de amigos e familiares próximos (gordo, preto, viado, sapatão, feminista e afeminado), acrescidos de meu nome. Aproximando-me de um processo de gravura, produzindo matrizes – carimbos – que contenham estas palavras e oferecendo meu corpo como suporte para que marcas sejam produzidas, me coloco vendado em um espaço público com considerável fluxo de transeuntes e espero que meu corpo seja manipulado pelos mesmos.
Em Epiderme social essa relação de [des]construção fica evidenciada: é o meu corpo, são experiências que eu vivi e que se relacionam diretamente a como fui formado. Imagina só: uma criança/adolescente do interior, com características que dissidiam da maioria das que convivia, experienciando práticas violentas, ao mesmo passo tem sua subjetividade construída. Qual fruto essa equação geraria? O que eu sou/era me parecia monstruoso, e fugir dessa monstruosidade era a maneira pela qual eu sobreviveria. É aqui que há a minha adesão a todas as práticas de branqueamento disponíveis. Me lembro que nesse período, por exemplo, quando me perguntavam ou afirmavam se eu era preto, ou mesmo quem da minha família era preto, imediatamente eu respondia que a descendência da minha casa era holandesa, uma história que eu inventei a partir de uma reunião familiar onde um tio branco disse brincando ser holandês.
Voltar a essa experiência, reiterando-a no campo da arte, é reposicioná-la dentro da minha subjetividade. É ver a potência deste corpo, do meu. E vê-lo potente justamente porque discrepa de tantos outros. Inclusive é devolver ao outro o que é do outro. O ato de me posicionar vendado e a permissão que concedo para que manipulem meu corpo denuncia as escolhas que estes transeuntes fazem. Durante a execução do trabalho, lidando com os registros que foram produzidos pelos produtores que me acompanham, é sempre possível identificar o cuidado, afeto que pretos e pretas praticam ao manusear meu corpo, e em paralelo é possível ver a falta de cuidado que a maioria das pessoas brancas praticam. Quando executei o trabalho em Vitória/ES, por exemplo, recebi um registro de um grupo de jovens homens brancos em posição de ataque, como se fossem me dar um chute ou algo dessa natureza.
Como aponta a Diana Taylor no livro O arquivo e o repertório, de 2013, a performance funciona como método para mim, e não como objeto de análise. Um método que permite, dentro do meu percurso como artista, a retomada dessas experiências que se deram em meu corpo para que eu possa compreender o sistema social em que eu estou inserido.
Considerando o conceito de “comportamentos reiterados”, do Schechner, um elemento também reiterado em suas obras performáticas, como em Ensaio para a [des]construção, GORDA ou μg/Kg, é o ato de alimentar-se. Na sua produção, a alimentação parece iniciar em um lugar de consumo violento, recorrendo até mesmo à ideia de envenenamento, e aos poucos deslocar-se para um outro lugar, de cuidado, de saber localizado que demanda legitimação. Como se deu esse processo?
A comida em minha formação subjetiva sempre foi elemento visual potente. Por muito tempo recorria a ela – compulsivamente – nos momentos de tristeza, de celebração, de ansiedade, e agora, a partir da retomada do entendimento de que o afeto cura, como aponta a bell hooks (2010), passei a utilizá-la como ferramenta de cuidado, seja comigo mesmo ou com os que estão próximos a mim, acredito que minha produção em arte também perpassa esse caminho.
Me refiro a esse estado como retomada de entendimento, uma vez que, voltando-me para as experiências que vivenciei com minha avó paterna e mãe na infância e adolescência, mesmo que ainda não reconhecesse essas relações como ancestralidade, posso identificar que ambas sempre utilizaram a comida nessa perspectiva, seja, respectivamente, preparando “latas de gordura” com carne de porco conservada, de onde tirava o sustento da casa, ou cozinhando suas deliciosas almôndegas ao sugo – que me entregava em uma quentinha todos os dias após as aulas na faculdade. Hoje, retornando a essas experiências, percebo esses cuidados como indício da negritude em meu seio familiar, mesmo que a gente não fizesse ideia do que isso era.
Especificamente me voltando para a prática artística que desenvolvo – igualmente como minhas práticas enquanto sujeito, se é que podem ser separadas – o ato de comer constitui um ritual, que ora aparece bastante violento, como, por exemplo, nas performances GORDA e Ensaio para a [des]construção do corpo, ambas de 2016, pautadas no ato de engolir a maior quantidade de comida possível e na maior velocidade que conseguia, ocasionando danos fisiológicos ao meu corpo (geralmente durante a realização das duas performances eu acabava ferindo minha garganta, gerando sangramento); ora sutil, como em μg/Kg, de 2017, onde consumo e ofereço aos espectadores presentes durante a ativação do trabalho uma moqueca capixaba preparada com um peixe contaminado por metais pesados, oriundo da região de Regência/ES, uma das áreas afetadas pelo crime que a mineradora Vale cometeu em Mariana/MG.
O interessante é que o desenvolvimento das performances em que esse elemento aparece e a maneira como aparece, de maneira geral, acompanharam as transformações que diariamente o ato de me alimentar, de engolir, sofreu. Se em 2016, 2017, eu reiterei experiências inerentes a processos de violência, performando a compulsividade alimentar gerada pelos processos racistas, LGBTfóbicos e gordofóbicos aos quais meu corpo é submetido, em 2020, durante a execução de minha pesquisa de mestrado, tenho tentado buscar de maneira geral, o que inclui as performances que realizo, ter a comida como elemento que gere afeto.
Seja em GORDA, Ensaio para a [des]construção do corpo ou em μg/Kg, minha prática evidenciava meu interesse nos processos de violência que corpos dissidentes experienciam; hoje estou mais interessado nas relações de afeto que estes corpos estabelecem e como este permite a sobrevivência dos mesmos.
É curioso: antes, para desenvolver os trabalhos que tinham comidas em seus memoriais, sempre partia da possibilidade de comer maiores quantidades, de ter mais comida na ação, de me violentar com este elemento. Agora a chave se reconfigurou: parto do pressuposto de que preciso demonstrar cuidado com esses elementos, respeito. Tenho pensado, por exemplo, em como os apresentar, qual o tipo de louça vou utilizar, quais serão os guardanapos. É como se eu pudesse enfim vivenciar esse ritual de afeto de maneira consciente, enxergando a potência que ele possui.
No âmbito da pessoalidade, isso já vem acontecendo de maneira reiterada: tenho feito dos momentos de alimentação uma possibilidade de cuidado, acredito que isso aparecerá de forma mais evidente na série que tenho produzido para o mestrado – Protocolos para a [Des]Construção do Corpo –, que parte da retomada do processo de cocção e condicionamento de carne de porco que aprendi com minha avó.
Essa estratégia de ressignificar para expor opressão é muito presente na teoria e arte queer. Como você enxerga o diálogo com essa teoria e expressão artística? Sua prática e interesses teóricos dialogam com uma perspectiva queer of colors?
Gosto bastante da abordagem feita pelo Prof. Arkley Marques, da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, no texto “A teoria queer em uma perspectiva brasileira: escritos para tempos de incertezas”. Ele parte de um pensamento arqueológico para compreender a teoria queer e a perspectiva queer of colors como uma prática extremamente comprometida politicamente e que possibilita importantes discussões. Gosto dessa perspectiva sobretudo por ser um estudo no campo da arqueologia, que por definição pressupõe, entre outras coisas, a realização de ações físicas, executadas pelo corpo, como, por exemplo, processos de coleta e escavação, realizando estudo dos costumes e culturas de outras sociedades que não se encontram mais aqui, por meio dos materiais que vão sendo encontrados.
Esse ato de escavar, presente na arqueologia, é recorrente em algumas práticas artísticas – o que inclui a minha – e relaciona-se diretamente com a teoria queer e a perspectiva queer of colors. É voltar-se para as práticas, costumes e acordos culturais que foram/são operados socialmente e que se constituem de atos violentos. É a partir desse ato de escavar, de procurar e de se relacionar novamente com essas experiências que se consegue reposicioná-las dentro das suas subjetividades. Feito isso, a partir da reiteração das mesmas nos diversos campos do pensamento, obtém-se um deslocamento social, um mal‑estar, e isso é extremamente potente.
Sua produção atual, a série de três volumes Click ou Isto não é um Preto, tem se voltado para outros suportes e técnicas, como a pintura com caneta esferográfica ou marcador permanente em capas de caderno e revistas populares. O que o ato de pintar de preto a pele de pessoas brancas, o blackface, quando feito por um artista negro, revela?
Se fizermos um exercício de retornar ao que consumimos, ou melhor, o que éramos obrigados a consumir dez anos atrás, por exemplo, certamente as referências de sujeitos pretos ou de práticas que apresentavam a potência dessa parcela populacional eram mínimas ou inexistentes.
Me lembro de como era terrível comprar cadernos para a escola. As imagens contidas nas capas disponíveis para aquisição, considerando o poder de compra da minha família, apresentavam um padrão de corpo, de raça, de estilo de vida que não era o meu, mas pior que isso era que essas imagens me levavam ao desejo de ser ou viver como aquelas pessoas. O que era bastante cruel, porque sendo preto, vivendo no Brasil, dificilmente eu – e todos os meus amigos – poderíamos, por exemplo, tirar férias em Salvador/BA ou nos Estados Unidos, como apresentado nas capas da tiragem dos anos noventa do caderno Click, da Tilibra. Essa ausência de corpos pretos não era exclusividade dos materiais escolares, ela se dava em todos os lugares, seja na programação dos canais de televisão, nos brinquedos disponíveis, nos jornais ou nas revistas impressas.
Fui adolescente no fim dos anos noventa e início do anos dois mil e, portanto, consumia com esforço financeiro, por exemplo, a revista Capricho, que desde a maioria de suas capas até o conteúdo discriminado nos exemplares, não me lembro de nada que me fizesse entender que eu era um indivíduo preto ou que apresentasse como protagonista sujeitos como eu.
Às vezes essa ausência era substituída por chacota, pela apresentação de personagens que ratificaram estereótipos e contribuíram para que fossem atribuídos aos pretos e pretas lugares às margens da sociedade, como, por exemplo, a imagem de pessoas brancas com seus corpos cobertos com tinta preta, reforçando a condição animalizada dos indivíduos pretos atribuída pelo sistema branco-eurocêntrico em toda a história dos processos de colonização. Sistematicamente operada por pessoas brancas, essas imagens tentavam imputar a superioridade de um grupo – branco – em detrimento a outro – preto.
Agora me responde: como, vivendo esses processos todos, eu poderia me orgulhar de minha condição de preto? Ou melhor, como eu poderia ter consciência de que eu era um indivíduo preto e que, por ser assim, vivenciava a sociedade de uma maneira distinta se comparado a indivíduos brancos?
Acredito que essa ausência ou utilização errônea da imagem de pessoas pretas constituem na realidade ferramentas pedagógicas para a manutenção do que nos foi atribuído nos processos de escravização, como aponta Frantz Fanon em Pele negra, máscaras brancas, e operam para a continuidade do desejo de um ideal que é branco. Mesmo vivenciando diversas experiências que denotavam minha condição, só consegui me aproximar de fato de minha negritude em meados dos anos 2016, ou seja, há quatro anos. Especificamente a série Click ou Isto não é um Preto lida com essas questões, problematizando quais foram as imagens que habitaram meu consciente e inconsciente que contribuíram para o distanciamento de minha condição de sujeito preto e que me aproximaram de um ideal branco.
Os trabalhos, que ainda estão em desenvolvimento, são compostos por cadernos escolares, revistas e outros objetos que ainda não publicizei e que eram utilizados de maneira recorrente no período de formação de minha subjetividade (infância, adolescência e juventude). A partir da ação de hackear o sistema branco e usando de suas estratégias de violência, especificamente o blackface, venho evidenciando a ausência de corpos negros nesses objetos. A ação se dá a partir da identificação dessas imagens, da análise dos corpos que são representados nas mesmas e que não são pretos, e da ação de pintá-los, ora com caneta esferográfica preta, ora com marcadores pretos permanentes.
O volume I é composto por dez cadernos com capas fotografadas em Salvador/BA, da marca Click, produzidos pela Tilibra, sendo que apenas um apresenta na capa um indivíduo preto como protagonista. O volume II é da mesma marca de cadernos, composto por seis capas fotografadas nos Estados Unidos e que não apresentam nenhum sujeito preto em suas composições. Já o volume III lida com a revista Capricho, especificamente alguns dos exemplares que lidei diretamente durante o período que consumia a revista e que consegui recuperar.
O trabalho problematiza a ausência da presença negra na construção das identidades brasileiras, sobretudo de quem manducou esses objetos como eu, e revela, reposicionando por meio de uma ferramenta que nos feriu, a ausência dos nossos corpos e a naturalização da presença branca nessas imagens.
Dentro dos processos de dissidências corporais, seu corpo acumula marcadores: negro, gordo, LGBTQIA+. Obras como GORDA atuam em uma perspectiva queer notória de ressignificar discursos de opressão. De certa forma, sua produção parece caminhar em um processo de rememoração e ressignificação. Essa leitura faz sentido dentro de seu processo criativo? Quais são as obras que te interessam fazer a partir desse ponto?
Sim, faz todo sentido e não sou só eu que tenho operado assim. Fico observando, por exemplo, a prática desenvolvida pela Ventura Profana (MG) e todos os seus apontamentos no trabalho Traquejos pentecostais para matar o Senhor, de 2020, ressignificando a experiência religiosa que possivelmente tentou disciplinar a formatação de seu corpo e de sua subjetividade; ou ainda a artista Jaqueline Vasconcelos (BA), que com seu alter ego Jack Soul Revenge Girl, devolve para a sociedade as diversas violências que o corpo da mulher e de indivíduos LGBTQIA+ vêm sofrendo em sociedade, como, por exemplo, no trabalho Impróprio para consumo, de 2018, apresentado no CCBB São Paulo. Percebo que essa chave de produção é cada vez mais recorrente em artistas que, assim como eu, acumulam marcadores sociais como os que você aponta.
Pensando especificamente minha prática, tenho percebido meu percurso como sujeito e artista de maneira similar a uma linha do tempo: primeiro trouxe para o campo da arte questões que perpassam minha subjetividade de maneira geral – mesmo que elas já apresentassem indícios desses marcadores, eu estava criando a partir de um lugar mais generalista, amplo –; agora eu estou interessado em acontecimentos mais específicos, que muitas vezes bebem de práticas violentas, para que, a partir do manuseio dos mesmos, eu possa, em um primeiro momento, reposicionar essas experiências em minha subjetividade e, posteriormente, repensá-las coletivamente, no que diz respeito à sociedade.
Embora partam de experiências datadas, com tempos cronológicos conhecidos por mim, é a partir do manuseio dos materiais, abarcado dentro do ato de criar, que os trabalhos deixam de habitar apenas o meu consciente individual e ganham força no contexto coletivo. Os trabalhos surgem sobretudo do meu gesto, seja ele um registro ou a materialização de uma ação expressiva – é o que Merleau-Ponty, no livro Phénoménologie de la Perception, chamou de “arco intencional” de movimento e gesto.
Se voltarmos, por exemplo, na série Click ou Isto não é um Preto, em desenvolvimento, e nos ativermos aos materiais que compõem o trabalho, como, por exemplo, cadernos e revistas dos anos noventa/dois mil, com majoritariamente indivíduos brancos performando protagonismo, sendo que os mesmos estão completamente pintados de preto por canetas esferográficas ou marcadores permanentes, os materiais e a materialidade que estão presentes no trabalho informam, ou seja, possibilitam análises a partir tanto do contexto pessoal de quem os observa quanto no contexto geral do País, por exemplo. Inclusive podem ser boas ferramentas para que indivíduos brancos repensem seu lugar de privilégio.
É esta a operação que me interessa atualmente, e é a partir dela que tenho pensado os projetos que quero desenvolver. Eu tenho tentado listar quais foram as situações, objetos, experiências, acontecimentos, entre outros, que vivenciei e como eles podem ser articulados de maneira que revelem o verdadeiro sentido de suas realizações, desde os que animalizam meu corpo, bestificaram minha sexualidade, até os que me permitiram gerar existência.
Imagens (01 a 25)
Click ou isto não é um preto, Geovanni Lima, 2020, volume III, Capricho.
Técnica: Marcador permanente preto sobre capa de revista.
Dimensões: 26,4 cm x 20,1 cm. Múltiplos.
Referências
BANDEIRA, Arkley. M. A teoria Queer em uma perspectiva brasileira: escritos para tempos de incerteza. Revista Arqueologia Pública, v. 13, n. 1, pp. 34- 53.
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Editora Edufba, 2008.
HOOKS, bell. Vivendo de amor. In: Geledés, 2010, s/p. Disponível em: http://arquivo.geledes.org.br/areas-de-atuacao/questoes-de-genero/180-artigos-degenero/4799-vivendo-de-amor
LIMA, Geovanni. Portfólio. Disponível em: https://www.geovannilima.com.br/
MERLEAU-PONTY, M. Phénoménologie de la Perception. Paris: Gallimard, 1945. Ed. Brasileira: Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
SCHECHNER, Richard. O que é performance? In: O Percevejo, 2003, ano 11, n. 12, pp. 25-50.
TAYLOR, Diana. O arquivo e o repertório: performances e memória cultural nas Américas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013
*A entrevista com Geovanni Lima foi realizada em agosto de 2020 e é inédita, assim como o terceiro volume da série Click ou isto não é um preto, apresentado nesta publicação junto à entrevista. A entrevista foi pensada a partir da aproximação entre a pesquisadora Maíra Freitas e o artista Geovanni Lima e de intensas trocas sobre arte e política, questões raciais e práticas decoloniais. A entrevista foi realizada por videoconferência e e-mail.
Maíra Freitas (1985, Campinas) é artista, pesquisadora, curadora e arte-educadora. Também mulher cisgênera, parda, lésbica e mãe solo. Sua pesquisa poética parte do desejo de criticizar as relações entre cultura e natureza e desdobra-se em múltiplas linguagens, passando pela arte do vídeo, fotografia, pintura expandida, instalação e arte têxtil. Expôs na
individual Solo da maternagem solo; e nas coletivas Videolatinas; Plantão, Ateliê 397; (Re)existências, ANPAP; e 3a Mostra Unificada. Curou o II Festival Lacração; a exposição coletiva (Cor)po paisagem; e a individual Desvio-Devir, no SESC Sorocaba. Doutoranda em Artes Visuais (Unicamp), dedica-se ao estudo das artes do vídeo e suas relações com gênero, sexualidade e racialidade.