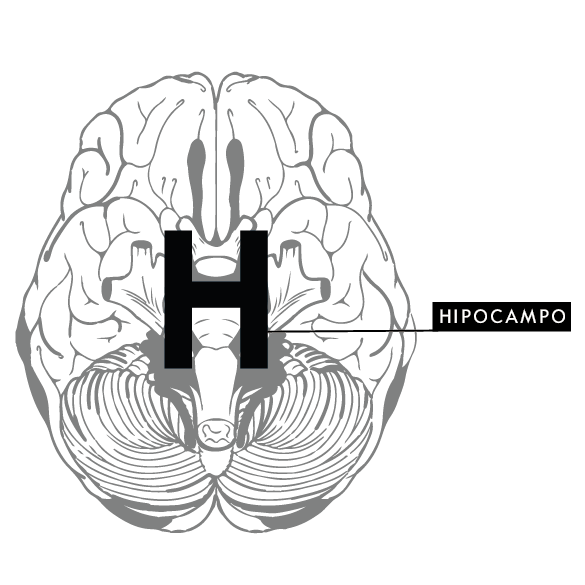Publicado originalmente em Marcos Hill e Marco Paulo Rolla (Orgs.), O Visível e o Invisível na Arte Atual, CEIA, Belo Horizonte, 2002.[1]
Eu me proponho a falar acerca do papel do artista como agenciador de eventos e fomentador de produções frente à dinâmica do circuito de arte. Não vou ler um texto. Tenho aqui algumas anotações e vou torná-las uma sequência através desta minha fala.
A razão, o motivo desse tema, desse assunto, está relacionado à minha atuação como artista, que passa também por esse tipo de prática. Quer dizer, existem alguns artistas que não se isolam apenas enquanto produtores do seu próprio trabalho, enquanto criadores mergulhados somente em seu próprio universo poético e que também gastam o seu tempo ou melhor, transformam o tempo de produção também em dedicação à fomentação, à produção, ao agenciamento de outros eventos, envolvendo outros artistas, outros criadores. Seja através do engajamento na edição de publicações, seja reunindo-se em grupos estrategicamente definidos a partir de certas demandas, seja realizando curadorias de exposições, enfim, tudo isso me parece bastante importante para que a gente fuja do estereótipo, dessa imagem tradicional que ainda vigora do artista isolado na sua criação, apenas detentor de uma assinatura e de uma obra que, enfim, luta para ser bem sucedida no circuito – como se fosse possível ser artista isoladamente.
De algum modo, a prática da arte está relacionada à construção de grupos, à constituição de certos caminhos para que a obra circule, está relacionada mesmo a essa noção, que está tão em voga ultimamente, de comunidade. Se a gente pensar em toda a História da Arte Moderna, mesmo as vanguardas modernas, no início do século, as vanguardas históricas estão todas relacionadas a esses agrupamentos muitas vezes rápidos, muitos fugazes – um par de anos, dois anos, três anos, quatro anos. Esses artistas se encontram ninguém sabe exatamente como, nem por quê e depois desenvolvem uma série de ações, uma série de práticas e depois se separam. Também não se sabe exatamente como eles se deslocam. Existe uma espécie de cola, um aglutinante que reúne as pessoas num certo momento e depois aquelas pessoas se separam. Quer dizer, não dá para não pensar realmente na produção da arte como um conjunto de eventos isolados, como artistas errantes absolutamente isolados uns dos outros. E então, nos últimos dez anos, o meu percurso como artista também tem sido ligado a esse tipo de atuação. Basicamente no Rio de Janeiro, através do grupo chamado Visorama, que criamos no início dos anos 90 para produzir discussões e debates em torno da produção mais nova de uma série de artistas que estavam produzindo e que não tinham nenhum retorno por parte da crítica, sem acesso a qualquer conversa um pouco mais espessa sobre as produções. Não há uma circulação efetiva da produção que se desdobre em um debate, em um comentário crítico, enfim não deixa nenhum traço. Esta sensação é péssima, e levou um grupo de artistas do Rio de Janeiro – eu, Eduardo Coimbra, Rosângela Rennó, Valeska Soares, Marcos André, Rodrigo Cardoso e muitos outros[2], cerca de dez a doze artistas a realizarem durante um ou dois anos uma série de encontros para conversar sobre o nosso trabalho, não apenas entre nós, mas colocando o nosso trabalho em contraste com o que a gente considerava interessante da produção contemporânea brasileira ou não, como uma maneira de pensar o nosso trabalho no meio de uma produção mais ampla.
Esse trabalho em grupo se desdobrou na revista Item, da qual eu e Eduardo Coimbra somos os editores. Lançamos quatro números em 1995 e 1996. A revista ficou parada e agora vão ser lançados mais dois números. A revista Item também levou à construção de um espaço no Rio de Janeiro chamado espaço Agora/Capacete, onde eu e Eduardo Coimbra nos juntamos com Raul Mourão e Helmut Batista para criarmos um espaço de exposições, performances, vídeos e debates. Eu tenho tido uma atuação que passa por esse tipo de ação. Então me interessa trazer à tona esse tipo de problema para uma discussão.
Além de tudo, tem sido perceptível no Brasil, nos últimos dois anos, a organização de diversos grupos de artistas em várias capitais do país, o que me parece um sintoma bastante interessante e importante. Quando pensamos em Fortaleza, com um espaço como o Alpendre, em Porto Alegre, com o Torreão, no grupo Linha Imaginária – que na verdade não tem sede fixa: ele é organizado a partir de São Paulo, mas propõe a realização de exposições pelo Brasil inteiro –, quando pensamos no Rio de Janeiro, no espaço que nós criamos chamado Agora/Capacete e que atraiu imensa atenção em apenas um ou dois anos de existência, até por haver uma necessidade desse tipo de ação, desse tipo de espaço. Não posso me esquecer do grupo Camelo de Recife e de outros que não tenho registro neste momento.
Se escapamos do Brasil, vemos diversos centros de artistas em Londres, em Portugal – a presença lá de um grupo chamado Virose, de uma galeria chamada ZDB que também começou com formação independente. Percebe-se que tudo isso na verdade são mais do que espaços alternativos, alternativas a uma carência do circuito que indica a emergência de um outro modo de organização. Na verdade, este modo não começou agora na virada do século. Ele data de pelo menos dos anos 1970. Foi típico desse momento a emergência de uma série de centros de artistas de diversos países, em diversas capitais do eixo Europa- Estados Unidos: centros autônomos de artistas independentes. Logo, mais do que simplesmente uma alternativa de trabalho acho que esta movimentação pode ser um indício da necessidade da invenção de uma outra organização dos artistas para pensar a produção da sua obra, para pensar suas questões de trabalho frente ao ambiente do circuito de arte e à economia do novo capitalismo, ao arranjo do mundo globalizado, isto é, frente a esse grande circuito de arte que se vê hoje como hiper-institucionalizado, movimentando uma economia significativa, uma grande soma de dinheiro com suas grandes exposições, mostras internacionais, bienais, documentas, etc… A presença desses centros de artistas parece ser bastante importante. É necessário ressaltar que, nos últimos dois anos, esses agrupamentos têm se multiplicado e ocupado um lugar de destaque no Brasil, a ponto de alguns desses centros independentes terem merecido apoios de empresas como a Petrobrás que, por exemplo, apóia, a partir de 2001, a programação anual do Alpendre em Fortaleza e do Espaço Agora/Capacete, do Rio de Janeiro. O desejo de uma empresa desse porte de associar a sua marca a uma iniciativa desse tipo mostra, sem dúvida, o papel importante que esses centros possam estar desempenhando no tecido nacional brasileiro.
Acho que seria interessante até pensar esses centros como um palco, uma ponta, ou algo que aponta para uma reformatação desse circuito de arte no Brasil. Desde logo fica então a pergunta; será que estamos presenciando uma transformação do circuito de arte brasileira, um diferente arranjo desse circuito, a emergência de uma outra consciência, nova, por parte dos artistas contemporâneos, de como conduzir a sua obra, percebendo a inserção do seu trabalho frente ao circuito e aglutinando um poder estratégico do seu trabalho? Isto significa perceber a necessidade desses agrupamentos como fontes de incentivo à produção dos artistas, ao apoio à sua produção ou à construção de alianças com outros artistas, com outros centros, etc.
Quando a gente pensa nesses centros de artistas em nível global, tenho certeza de que podemos pensar nessas iniciativas em diversos lugares do mundo, nos cinco continentes. Eu diria sem sombra de dúvida que isto não deixa de ser também uma reação, uma reformatação do circuito frente ao chamado capitalismo avançado, globalizado, frente ao biocapital nesta sua nova forma de funcionamento, com seus fluxos e movimentos não lineares, sintoma da extrema atualização da sua circulação. Os centros de artistas são agrupamentos diferenciados que conseguem mais flexibilidade de deslocamento do que as grandes instituições, não simplesmente enquanto centros alternativos, mas como agrupamentos que têm uma estrutura burocrática minimizada, permitindo esta flexibilização.
Bem, a ideia de circuito de arte também parece importante de ser colocada enquanto noção que emerge com bastante clareza a partir da prática dos artistas conceituais. A noção de um circuito diante de um sistema de arte é, em grande parte, de responsabilidade da prática mesma daqueles artistas que foram denominados artistas conceituais, em um certo momento que pode ser datado entre meados dos anos 1960 e meados dos anos 1970, quando essa produção emerge e ganha um nome, um rótulo e aponta um certo modo de trabalhar. Sua preocupação incidia sobre a conscientização acerca dos personagens do circuito, dos elementos, das instâncias do circuito da arte enquanto responsáveis pela produção de sentido da obra. A prática desses artistas informou todo o circuito de arte que construiu uma consciência dos seus diversos papéis, seja como artista, crítico, galerista, curador, colecionador, etc. Esses artistas depositaram uma grande atenção nestas relações e fizeram trabalhos que traziam à tona, com muita lucidez, o papel de várias dessas instâncias que vêm a compor o chamado circuito de arte, apontando-as como também responsáveis pela construção do sentido da obra. Hoje para nós esse dado já parece muito mais evidente: o sentido da obra é construído pelo modo de sua circulação, pelas instituições, por onde essa obra passa, pelo trânsito que a obra consegue construir nos seus deslocamentos, seja através do museu, da galeria, do centro cultural, ou via colecionador, pela revista ou pela crítica. Isso tudo foi trazendo à tona a consciência de que cada um desses momentos era também responsável pela construção do sentido da obra. Podemos perceber as mais diversas ações mostrando que todas essas interfaces do trabalho também são responsáveis pela construção de seu sentido. Claro que podemos pensar que Marcel Duchamp já havia tornado visível um ponto chave desse problema, quando mostra que qualquer coisa que está dentro de uma instituição de arte, formatada enquanto obra de arte, vai ganhar esse sentido, vai questionar esse lugar da obra de arte: seus famosos ready-mades já tocam nesse traço institucional da obra de arte.
E a noção de circuito, não se deve esquecer, é conseqüência dessa ciência ou desse campo que surge na metade do século vinte, o campo da cibernética, com sua noção de circulação, de sistema, de que as coisas não estão paradas, mas sim articulam-se através de certos caminhos. Cibernética vem de uma expressão grega que significa homem do leme, timoneiro. A cibernética quer pensar a economia desses circuitos. Como enfim a energia circula? Como ela se transforma? Como se dá a regulação dessa energia? O circuito de arte também está submetido a uma série de mecanismos reguladores que administram sua economia interna, o caminho de circulação da obra, dos valores, os jogos de poder, etc. Tenho a impressão de que a arte conceitual e o campo da cibernética são responsáveis pela nossa noção de circuito de arte. Pensa-se, por exemplo, que uma exposição não acontece sem a parte da publicidade, sem uma relação com o mercado, sem uma interface com a crítica, sem uma relação com as coleções, etc. E essas relações não são exatamente relações que têm que ser necessariamente bem sucedidas. Bem ou mal sucedidas, são desde já relações. Não há nada que seja desperdiçado: cabe ao momento de circulação da obra de arte colaborar para a produção do sentido, uma vez que vai agregando elementos para se pensar o trabalho, sem considerá-lo isoladamente mas sim em suas relações com esses diversos campos. Então também me parece importante, já chegando um pouco mais perto do cenário brasileiro, pensar que os anos 1980, esses famigerados anos, no seu conservadorismo econômico e político da era Regan e da era Thatcher, marcados pela chamada “volta à pintura” (o que não deixa de ser um estereótipo da época, porque os anos 80 não se reduzem de maneira alguma a esta onda), são mesmo um reflexo de uma nova economia do circuito de arte, com um aquecimento em grande escala que permitiu uma redimensionalização da atuação das galerias e museus, com o ressurgimento das publicações de arte, por exemplo.
As pinturas nas suas dimensões monumentais, a figura do artista como celebridade – muito parecida com a celebridade do mundo da música pop – são fenômenos desses anos e a chamada volta à pintura traz também uma aparente naturalização do circuito de arte. Perdeu- se um pouco a dimensão crítica desse circuito, pensando-se que o comum da arte – e essa era uma sensação muito típica, talvez até estereotipada, do período – era mesmo um circuito que absorvia naturalmente as produções e que, a partir do momento que os artistas realizavam as suas obras, suas pinturas, elas já saíam do ateliê definindo sua circulação, indo para as coleções, sendo este o percurso a ser atravessado, sem tensionar as demais instâncias do circuito. Houve uma certa profissionalização do artista, como se esse artista profissional devesse aceitar mesmo naturalmente sua profissionalização sem pensar a relação complicada que existe entre a produção da obra de arte e a sua transformação em capital. Não que a arte vá ser responsável por aniquilar um modo de funcionamento do capital – porque a arte não tem poder para transformar completamente essas relações. Mas o lugar da obra de arte no mundo ocidental tem sido um lugar também de desnaturalizar essas relações, de não torná-las tão automáticas, de sempre perceber como esses mecanismos podem ser o tempo inteiro desviados, retorcidos, reinventados, e como também cada produção necessariamente vai ter que criar, de certo modo, uma economia para sua circulação.
A lógica de circulação de uma pintura é completamente diferente da lógica de circulação de uma instalação ou de uma performance. Pode-se pensar que a pintura é um objeto que vai se transportando facilmente de um lugar para outro, da exposição para a casa do colecionador, sem grandes traumas. E aí, esses outros tipos de trabalho têm que inventar uma outra economia para sua circulação que pode passar não pela compra e venda de um objeto exatamente, mas por outros caminhos: aproximar-se, por exemplo, de modos de exibição do filme ou do vídeo, pela produção de múltiplos, inaugurando uma outra série de estratégias de circulação do trabalho. Assim cada tipo de trabalho, cada meio, vai ter que desenvolver igualmente uma economia que não será sempre única, homogênea, uniforme. Uma performance pode produzir o quê? Um registro de vídeo, um DVD, um CD áudio, ou apenas a necessidade de uma reencenação em novo momento? Então, mais do que nunca, quando pensamos o circuito de arte em sua multiplicidade de meios, de possibilidades de expressão e de criação, é preciso também pensar a economia desse circuito, sua trama, de uma maneira muito mais ampla. Até para responder a essa variedade de formas de ação e de demandas. Desse modo, os anos 80 trouxeram uma perigosa naturalização do circuito a partir da figura do artista profissional, do artista automaticamente bem sucedido. Lembrando uma frase de Roland Barthes – “a vitória do artista é a derrota da sociedade” – percebemos que a relação do artista com a sociedade não é uma relação muito simples, e o valor da obra de arte não é simplesmente traduzível automaticamente em um valor econômico. Não existe tal paralelo tão simples. Os anos 80 correram muitas vezes o risco de produzir uma equivalência entre valores, no sentido de que “o melhor trabalho era o trabalho mais caro”, sem mostrar o abismo que existe entre o valor econômico, o valor artístico e os demais valores associados à produção da obra de arte.
Em termos brasileiros, parece-me que esse slogan da volta à pintura – um verdadeiro estigma – ainda é uma pedra no sapato da historiografia recente da arte brasileira. Ainda está por se fazer uma leitura mais abrangente da arte brasileira nos anos 1980, porque os artistas destes anos, que foram ligados diretamente à volta à pintura, estão de certa maneira mapeados. Encontram um lugar dentro dessa história da arte. Mas uma série de outras iniciativas que não passaram diretamente pela volta à pintura, ainda que possam tangenciá- la muitas vezes, são recalcadas pela História da Arte Brasileira recente, sem merecer um mapeamento correspondente à sua importância. Grupos como “3nós3”, “Seis Mãos”, o trabalho de Alex Hamburger e Márcia X, por exemplo, responsáveis por uma série de ações ligadas à performance e a intervenções típicas dos anos 80, não aparecem registrados na História da Arte Brasileira. Esta situação revela mesmo uma lacuna, mostra uma certa dificuldade de deslocamento da historiografia brasileira, uma falta de flexibilidade, ou talvez um atrelamento demasiado dessa História da Arte Brasileira (sabemos das dificuldades de pesquisa e trabalho) aos mecanismos do mercado. Mas quando se pensa que estes mecanismos de mercado no Brasil não são tão consistentes assim – são bastante irrisórios quando comparados com outros locais em que o mercado de arte desempenha um papel forte – percebe-se as adversidades e contradições dentro das quais vivemos em nosso país.
Outro traço importante a ser pensado com relação aos agrupamentos de artistas no Brasil, é a necessidade que demonstram de responder a uma certa inoperância das instituições. De modo geral, com suas dificuldades de verbas, etc, essas instituições acabam por ser quase que vitrines – considerando o lado perverso do vouyerismo – e não instituições que fomentam a produção contemporânea em sua devida necessidade. Algumas – as mais atuantes – acabam se envolvendo mesmo na promoção da produção, tanto de obras quanto de pensamento, ultrapassando a dimensão do evento-vitrine – no sentido de mostrar obras, exposições prontas que chegam já pensadas como pacote, muitas vezes com altos custos. Em geral, as instituições não conseguem se organizar no sentido do fomento, de ter verbas para possibilitar a produção de trabalhos novos ou de um pensamento novo, no nível de um laboratório, de uma experimentação ou de uma publicação, ou de uma construção de leituras e discussões. As instituições que agem assim deixam a desejar. Frente a isso, parece-me que esses agrupamentos de artistas procuram assumir a responsabilidade da produção, da fomentação da obra de arte, procurando criar mecanismos nos quais a prática do agenciamento da obra não esteja separada de sua produção e da produção de um pensamento a ela ligado. É o que ocorre, por exemplo, num local como o Alpendre ou numa série de ações do grupo Camelo.
É preciso pensar urgentemente como é que se processam as características do circuito de arte no Brasil. É preciso levantar esse tipo de questão. Investigar como se organizam as coleções e por que é que existem tão poucas galerias de arte. Por que sobrevive o clichê que demarca a galeria como um local simplesmente mercantil? Por que este não pode ser também um local de agenciamento de uma produção dita “avançada”? Parece claro que o circuito de arte de qualquer país vai estar estreitamente relacionado com a economia deste país. Obviamente, o circuito de arte brasileiro só pode ser um reflexo da economia brasileira, que todos sabem ser complicada, profundamente desastrosa na sua distribuição de renda. Todos sabem dos problemas da economia brasileira. Tomando por base a dificuldade de circulação da riqueza dentro do país, é claro que o circuito de arte brasileiro vai ser um reflexo dessa economia. Todas as distorções da economia brasileira vão se refletir em problemas do circuito de arte. Talvez eu devesse ter colocado antes essa questão, mas é oportuno lembrar que muitos dos críticos ligados à produção dos anos 1970 têm textos importantíssimos sobre a questão do circuito de arte, sobre a necessidade de construção de um circuito de arte para haver uma produção de arte contemporânea. Autores como Paulo Venâncio Filho ou Ronaldo Brito enfatizaram – isso em 1980-81 ou mesmo antes – que não há como ter uma arte brasileira contemporânea se não houver um circuito de arte minimamente estruturado. Se quisermos observar a arte brasileira, no momento atual ou em qualquer outro momento, veremos que ela estará em estreita relação com a estrutura do circuito, conforme este se coloca naquele momento. É curioso se pensar que a arte brasileira ganha uma relevância no exterior a partir dos anos 1990, muitas vezes graças à ação de algumas galerias que se organizaram muito bem para levar esta arte para grandes feiras e grandes mostras internacionais.
Sediada em São Paulo, a galeria Camargo Vilaça teve, por exemplo, um papel importantíssimo nisso. Mas ao mesmo tempo, no exterior, as pessoas se perguntavam (me perguntaram uma vez) se “Todos os artistas brasileiros que conhecemos são da galeria Camargo Vilaça?” Claro que a extrema organização dessa galeria e o cuidado com “seus” artistas fizeram com que a arte brasileira circulasse num circuito econômico internacional. É claro que uma galeria defende o interesse de “seus” artistas. Afinal é uma instituição privada. Mas é claro também que uma galeria não pode acolher toda a produção de um país. Ela abarca apenas uma parcela que, tendo sua importância, não reflete efetivamente toda a diversidade da produção artística como um todo. Certamente essa organização permitiu que uma boa parte da produção pudesse circular em outra esfera. Mas será que essa circulação não se deveu muito mais a um desejo de importação por parte desses grandes centros do que a um desejo de exportação por parte do Brasil? Parece ter prevalecido muito mais a vontade de consumo de um outro lugar que ambicionava por imagens para circulação em larga escala, não se interessando tanto por processos de pensamento. Porque é mais fácil exportar os objetos do que as leituras desses objetos. Na verdade, existe uma barreira linguística, que é um complicador. Portanto, será que a presença da arte brasileira no circuito internacional a partir dos anos 1990 não se deu, num primeiro momento, muito mais por uma vontade de importação por parte dos grandes centros do que por uma real vontade de intervenção dos artistas num certo panorama? Claro está que, acolhendo e refletindo a economia, o circuito de arte brasileiro implica em uma distribuição também muito desigual do seu capital artístico. Então ele promove a circulação apenas de uma parcela ínfima da produção. Quer dizer, estas poucas galerias que podem ser mais organizadas, não acolhem a variedade, a diversidade de toda a produção da arte contemporânea brasileira.
E ainda existe neste contexto o ranço de um certo elitismo, que não se vê tão ostensivamente nos grandes centros internacionais. Um ranço bastante reacionário que reflete o modo como a elite brasileira lida com os valores da arte contemporânea. Muitas vezes, as galerias, esses locais de passagem da arte para o mercado, acabam se contaminando com certos vícios que são típicos do país, ainda com tantos problemas econômicos e tantos atrasos… Se pensarmos que a reforma agrária ainda está por se fazer no Brasil do ano 2001, percebemos os problemas estruturais da economia. E se pensarmos que muitos dos grandes colecionadores brasileiros têm a sua base econômica na agroindústria, seja no ramo do café, da laranja ou da cana-de-açúcar, por exemplo. Se lembrarmos de um colecionador como Charles Saatchi, inglês, que é publicitário, percebe-se o quanto a inserção econômica particular também revela e modula a atitude diferente de cada grande colecionador frente ao circuito. Um publicitário tem um olhar ágil, veloz, um olhar que é até prepotente, arrogante, que acha que pode construir ou desconstruir automaticamente a imagem de qualquer coisa. Talvez um colecionador que tenha a sua base econômica na agroindústria não tenha no olhar a agilidade de um publicitário. Não estou exatamente aqui dizendo o que é bom e o que é mau, mas apenas trazendo um dado muito importante para se pensar a base econômica de um circuito de arte. De que modo isso caracteriza e constitui um circuito? Que tipo de dinheiro circula? Como isso se relaciona com o jogo das linguagens contemporâneas? Enfim… tudo isso é muito complexo em suas relações com a produção artística. É muito interessante e muito importante se pensar acerca da economia da arte brasileira. Que soma de dinheiro circula na arte brasileira em um ano? Não se sabe. Provavelmente não se tem esses dados. E se quisermos levantar e perceber essa dinâmica, será um pouco difícil.
Há pouco tempo atrás, todos nós vimos uma série de debates em torno da Bienal de São Paulo, sintomas de uma crise e de vários conflitos. O que se percebe curiosamente é que foi um debate protagonizado por banqueiros. Também é interessante se pensar o momento de hoje, em que as indústrias, as empresas e as grandes corporações econômicas estão interessadas em apoiar a cultura e a arte. Esta é uma figura nova no Brasil, a figura do marketing cultural é uma presença nova. Empresas como a Petrobrás, grandes bancos como o Banco Itaú ou o Banco do Brasil com seus centros culturais, criam novos dados para a cultura brasileira. Muitas dessas instituições não estão preparadas para pensar o trabalho de arte, para poder entender que tipo de investimento estão fazendo, aonde o dinheiro está sendo investido, que tipo de proposta está sendo apoiada, etc. Vimos nesses debates em torno da Bienal de São Paulo uma curiosa polarização entre dois banqueiros, Edemar Cid Ferreira e Milú Villela, duas figuras do universo financeiro. Por que será que a discussão do projeto curatorial do diretor da mostra ficou em plano secundário?
Frente a isso tudo, é importante que os artistas tenham consciência e percebam o poder que têm em relação aos seus trabalhos no sentido de construir locais de atração, territórios que consigam atrair a atenção e aglutinar uma série de conexões, isso não é pouco, pois parece que produzir arte é mesmo construir estes locais especiais, regiões de atração. Os artistas sempre perceberam isso. De certa maneira, sempre tiveram uma consciência difusa de que têm desempenhado o papel de grandes promotores desta atração e de que existe uma dinâmica a ser percebida, conduzida e orquestrada em torno da obra de arte. E os centros de artistas são exatamente o exercício dessa dinâmica que, através da produção da obra de arte, da compreensão do jogo de linguagens e sua relação com o tecido social e econômico, do entendimento da atitude do artista frente ao circuito e do papel que desempenha (o debate em torno da imagem do artista que está sendo construída), deixa claro que não há como intervir, não há como inserir a obra no circuito sem se pensar na economia da obra frente à complexidade dessa inserção. Isso demonstra uma consciência do papel do artista frente a todo esse tecido e mostra que o artista é sempre um agente de transformação desse tecido. Muitas vezes, se tem a impressão de que nos anos 80, a partir da naturalização do circuito que estávamos comentando, foi criada uma figura do artista em segundo ou terceiro plano que era muito menos importante do que a do galerista ou a do curador. Como se sua função fosse a de apenas produzir algo demandado a ele ou a ela, sem absolutamente problematizar essa demanda. E quando pensamos no artista como sendo um pólo de atração dessa dinâmica, pode-se perceber que há aí a possibilidade de um outro modo de pensar.
Logo, esses centros de artistas mostram com certeza um aprendizado, uma outra consciência. Quando vemos um projeto como Rumos Visuais, do Itaú, mapeando artistas tão jovens, percebe-se que muito antes ainda de terem uma consciência de sua linguagem, do trâmite do seu projeto de trabalho frente ao tecido da arte brasileira, estes artistas já estão sendo mapeados, classificados. Quer dizer, num momento bastante inicial de sua produção o artista já está sendo convidado, às vezes até à sua revelia, a pensar o que pode ser essa inserção e trânsito numa rede de circulação. Pode-se imaginar o risco de um artista tão jovem, mapeado pelo projeto Rumos, ficar durante muito tempo preso a uma chave de classificação, se não perceber um pouco toda a trama que envolve esse mapeamento. Por outro lado, não deixa de ser também muito importante essa experiência precoce de inserção, tão nova em termos brasileiros. Essa tomada de consciência acerca da trama institucional do sistema de arte passa por uma consciência das estratégias de ação dos artistas, dos jogos de linguagem, da importância do discurso (o chamado eixo leituras-linguagem) e do pensamento acerca da obra de arte. Passa também por uma reflexão sobre o papel do artista e seu lugar frente ao tecido social e ao circuito. Por outro lado, as agências e centros de artistas, na sua pequena organização tão pouco burocrática, também produzem um tipo de institucionalização que poderíamos chamar de institucionalização minoritária, nem sempre exigindo o compromisso profissional de um “funcionário” daqueles que com eles e neles atuam. Trata-se mais de um compromisso de vida, uma incorporação de suas demandas estratégicas no nível de um registro de corpo, comportamento e atitude. Uma modalidade de compromisso que não começa às nove e termina às seis da tarde, que se iniciaria quando damos entrada no relógio de ponto de manhã e terminaria quando saímos no final do expediente. Mas sim, um tipo de compromisso que passa mesmo pela relação entre arte e vida. Existe um compromisso que não é aquele do funcionário, mas sim de um tempo de produção e de invenção da instituição, de um tempo de institucionalização que passa por esse outro lugar, que é também o da conviviabilidade, comprometido com um tipo de sociabilidade que é parte estratégica da ação.
Certa vez, eu e outros artistas do Rio de Janeiro enviamos um projeto para um grupo de artistas em Genebra – um centro de arte – chamado Atitudes, que nunca visitei pessoalmente. Não conheço os artistas que o compõem, mas sim um amigo que havia feito uma exposição e fornecido a referência desse local. Então enviamos pelo correio o projeto de uma exposição. E a resposta que veio por e-mail agradecia o envio do projeto mas dizia que não faziam nenhum tipo de exposição a partir de projetos, pois não aceitavam projetos. Programavam os eventos que queriam organizar a partir de encontros que eles tinham com as pessoas. Quer dizer, eles não nos conheciam pessoalmente, então seria impossível fazer qualquer coisa lá. Isto que poderia ser interpretado como uma atitude de fechamento, de exclusividade, da chamada ‘panelinha’, um agrupamento fechado exclusivo de certas pessoas, pode ser percebido como um cuidado no estabelecimento das relações que vão marcar a condução daquele centro. A eles, interessa muito mais organizar as suas atividades sem um edital, sem o recebimento de projetos, ao sabor dos encontros. Quer dizer, um artista leva a outro, uma linguagem leva a outra, um certo grupo de idéias leva a outras idéias. As afinidades acabam sendo trazidas à tona, acabam sendo exteriorizadas. Isto acaba marcando este modo de organização não por uma estrutura burocrática, definida por editais ou recebimento de projetos, cartas-resposta padronizadas, etc. Mas sim por um dado muito mais orgânico. Para quê essa ansiedade de mostrar tudo, a toda hora? Basta um certo número de eventos, acreditando-se que sempre os encontros que se dão em torno de uma série de obras e de artistas interessantes vão necessariamente levar a outras obras e outros artistas interessantes. Quer dizer, pensar o aspecto político dos agrupamentos entre as pessoas, os aspectos políticos da sociabilidade. Pensar a sociabilidade, pensar os agrupamentos, não por demandas simplesmente burocráticas, econômicas, não pela organização de um estatuto, pelos compromissos comportamentais enfim. Mas sim por essas chamadas políticas da amizade, pela construção de outros laços de trabalho. Amizade não simplesmente fraternal, não aquela amizade “cristã”, mas a amizade mesmo na sua dimensão política, que leva à construção de um espaço de diferença, um espaço de confronto. Isto agrupa mesmo, isto cria convergência para o novo modo de trabalho, para todos os aspectos ligados à construção de grupos, de espaços de convívio, espaços de alianças, de afinidades.
É claro que existe aí a determinação de um terreno político revigorado pelas políticas da amizade. Porque existe também uma dimensão política desses laços. Um termo muito interessante que o filósofo espanhol Francisco Ortega traz à tona é o termo da “tirania da intimidade”, pensando os aspectos político da amizade. Ele prega uma politização da amizade contra a tirania da intimidade. O que ele chama de tirania da intimidade é justamente toda a prática social ligada à necessidade de compartilhamento de um espaço íntimo que acaba eliminando toda a diferença possível entre os agentes. Então, por exemplo, numa economia como a brasileira, ainda extremamente conservadora, tão pouco moderna em alguns aspectos, ligada a esse lastro quase que arcaico em que se confundem os espaços públicos e os espaços privados, muitas vezes esse aspecto da tirania da intimidade carcateriza um espaço compulsório. Se você não compartilha da intimidade com os agentes do circuito de arte, não é literalmente amigo, não compartilha jantares, não compartilha enfim segredos íntimos, etc, você é alijado das possibilidades de freqüentar esse circuito de arte. Isto reflete os aspectos mais reacionários do circuito. Quando então se lança esse termo da politização da amizade, se pensa em outras formas de agrupamento que vão constituir uma outra sociabilidade. Parece-me que os centros de artistas são também laboratórios importantes para que essas práticas sejam pensadas, sejam mesmo implementadas, com sua agilidade, com a sua desburocratização.
Bom, queria agora fazer alguns comentários sobre esses grupos que citei aqui rapidamente, para depois abrir um debate. Por exemplo, o espaço Torreão, em Porto Alegre. Não sei se todo mundo aqui conhece. Animado, organizado e produzido pelos artistas Elida Tessler e Jailton Moreira, este espaço consiste numa sala de exposições ligada a um espaço pedagógico, de ensino. As exposições só acontecem nessa sala, e eles fazem questão de comentar que as exposições se dão graças à generosidade dos artistas. Há uma informalidade nas negociações. Há um convívio e há um intercâmbio de ideias. Não há nenhuma burocratização no sentido do envio de projetos, editais, etc. Depende mais da generosidade do artista, depende do artista organizar a economia dessa sua ação, depende do artista se predispor a fazer isso. Então essa é uma atitude em relação ao trabalho e também é um modo de se organizar que é diferente de uma instituição convencional, pois é uma organização ao sabor mesmo dos encontros. Como eles mesmos fazem questão de dizer, não há uma curadoria em termos de linguagens, um filtro em termos de linguagens. É uma produção contemporânea nos seus múltiplos aspectos que circula por ali.
Vejamos outro grupo, o Camelo, de Recife, que foi inventado, entre outros, pelos artistas Marcelo Coutinho, Paulo Meira e Oriana Duarte. Esses artistas se organizaram em 1997, buscando uma forma de resistência contra o regionalismo de Recife. Eles queriam mostrar que suas produções não respondiam apenas às demandas locais, às demandas regionais, mas queriam dialogar com a arte brasileira como um todo, queriam dialogar com os grandes centros, enfim, centros como Rio, São Paulo, Belo Horizonte e as outras capitais brasileiras. Queriam ser arrancados daquela discussão local. Visavam também os centros internacionais. Hoje, não há como ser artista sem pensar em uma perspectiva que se projete para fora do país. Ninguém quer mais ser artista dentro de seu próprio país apenas. É interessante ser artista escapando de suas próprias fronteiras. Atualmente, o deslocamento é um valor. Então esses artistas organizam uma série de exposições em 1997, para discutir a própria produção e para construir um pensamento a partir da própria produção. Começar a construir ligações políticas fora do seu próprio local de trabalho. Porque é muito importante escapar do seu próprio local de trabalho, seja nacional, seja regional, criando alianças com outros locais, com outros centros, com outros artistas, até para escapar do jogo político que pode constranger a produção no nível local. Estes artistas têm uma consciência muito grande em relação à crise da assepsia da modernidade. Querem discutir o valor do deslocamento, querem reconhecer as diferenças, a diversidade da produção, querem buscar uma renovação crítica. Estão interessados na produção de discurso. Não querem apenas questionar a relação entre centro e periferia. Por estar em Recife, eles são periferia. É preciso construir uma dobra do circuito que passe por ali. É preciso construir um centro, fazer com que suas obras sejam mesmo centro de atração. E são artistas bastante conscientes. Pensam a organização do circuito, pensam suas estratégias de ação, são conscientes da necessidade de uma ação coletiva e também realizam trabalhos em co-autoria. Para desviar um pouco daquela demanda de que o artista é aquele ser individual, com a sua assinatura individual. Então eles também trabalham em grupo, fazem trabalhos coletivos, trabalhos em equipe, que são assinados coletivamente. Esse é outro modo de escapar daquelas unidades autorais preconcebidas.
Outra experiência bastante interessante é a do grupo Linha Imaginária, centralizado em São Paulo. Talvez alguns de vocês o conheçam. Organizado basicamente pelos artistas Mônica Rubinho e Sidney Philocreon, me parece uma experiência bastante interessante no sentido de que não é um local, não tem sede ou galeria. É mais um modo de organização que pensa como agrupar artistas, como organizar exposições de artistas que estejam dispersos pelos vários pontos do país. Artistas que tenham uma certa afinidade de linguagem e uma vontade de escapar dos seus próprios locais de trabalho para tentar fazer com que seus trabalhos circulem por outros locais, por outras capitais, por outras instituições. Então o grupo Linha Imaginária constrói uma espécie de mapeamento, uma espécie de mapeamento, uma espécie de banco de dados, com uma série de pequenas regras, minimamente organizativas, tentando estimular nos artistas participantes uma certa responsabilidade na sua inserção neste grupo. Existe uma taxa de inscrição para que o seu material seja documentado e arquivado. Existe uma espécie de ordem de chegada, uma fila que indica os artistas que vão participar da próxima exposição. Ou seja, este projeto organiza uma economia própria interna e mínima, capaz de mediar a produção das exposições, as relações com a imprensa e com a mídia. Há uma vontade de produzir mesmo e de intensificar um intercambio cultural, um deslocamento dentro e também fora do Brasil. É uma espécie de trabalho voluntário dos artistas, que se organizam. Já existe uma base de dados de diversos artistas, um site na internet e um extenso currículo de mostras realizadas desde 1997 até 2001, passando por diversos estados como Pará, Ceará, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Bahia. O grupo Linha Imaginária é um exemplo bastante claro de um grupo de artistas que desenvolve e exterioriza a consciência de que existe um circuito com muitas limitações e que é preciso implementar algum mecanismo que reinvente esse circuito, que possa criar um modo de intervir e buscar brechas para trazer dados novos, para agrupar os artistas e criar experiências de intercruzamento cultural entre artistas.
Um quarto exemplo é o do espaço Agora/Capacete, do qual eu participo. Esse nome Agora/Capacete se deve ao fato do espaço aglutinar dois núcleos de curadoria diferentes, dois núcleos de agenciamento diferentes: o núcleo Agora e o núcleo Capacete. Achamos que seria mais interessante manter dois núcleos, com linhas diversas de atuação, trabalhando juntos. O espaço Agora/Capacete tem um slogan que é o seguinte: “Acreditamos que o melhor lugar para o aparecimento do trabalho de arte depende de sua própria estratégia”. Quer dizer, uma obra de arte não precisa necessariamente aparecer na galeria ou no museu. Ela pode aparecer em qualquer lugar. E em sua estratégia de aparecimento, ela vai estar ligada à estratégia de linguagem com a qual está envolvida. A idéia do espaço Agora/Capacete começou no final de 1998, no Rio de Janeiro, a partir de iniciativa do artista Helmut Batista, que organizou exposições no seu próprio apartamento. Depois estas exposições foram deslocadas para outros locais alugados na cidade, ou para instituições com as quais desenvolvíamos relações. Finalmente, a partir de maio de 2000, nós inauguramos um local que passou a ser a sede do espaço Agora/Capacete, contendo uma galeria e um escritório. O fato de termos uma sala e escritório permitiu então a existência de um ponto de referência, com a possibilidade de se organizar tanto exposições como eventos, filmes, vídeos, debates, etc. A idéia é dinamizar e trazer alternativas à produção e circulação de arte contemporânea. O fato de ser um centro gerido por artistas propicia uma relação direta, com poucas intermediações, entre os expositores e a produção dos eventos.
Uma questão que se coloca imediatamente é: quais são os eventos promovidos pelo Agora/Capacete? Acho que isso é uma questão de todos os centros de artistas. Há mesmo uma grande cumplicidade, uma grande relação dos eventos que são promovidos com esses artistas individualmente; no caso, os próprios artistas que organizam o espaço Agora/Capacete – cada um deles tem o seu trabalho individual, o jogo de linguagens com que está envolvido. Os artistas com os quais queremos trabalhar têm relações com o nosso trabalho pessoal. Não queremos fazer um espaço em que não nos vejamos também representados. Não deixa de ser um espaço para também multiplicarmos o nosso trabalho e criarmos alianças. O espaço Agora/Capacete ganhou recentemente o apoio da Petrobrás para um ano de programação. Um apoio que vai permitir a realização de seis exposições, dois números da revista item e um site que entrou no ar há três semanas. Estamos experimentando fazer o que já vínhamos fazendo com o mínimo de apoio financeiro, agora com mais equipamentos e certas facilidades de trabalho, o que garante que nossos eventos tenham uma melhor eficácia.
Outro local bastante importante é o espaço Alpendre, em Fortaleza. Com atividades em diversas áreas como literatura, dança, vídeo e cinema e fotografia, o Alpendre tem a área de artes plásticas coordenada pelo artista Eduardo Frota. Agora, ele também vai realizar eventos com apoio da Petrobrás. O Alpendre tem uma galeria e também promove um workshop de uma semana, no qual artistas entram em contato com o público local de Fortaleza, com outros artistas e com estudantes. Cada artista passa uma semana desenvolvendo alguma atividade e depois faz uma exposição. Eu tive a possibilidade de fazer um trabalho no Alpendre no início de agosto de 2001 e achei bastante interessante. Para mim foi animador e muito significativo, pela natureza do meu trabalho. Propus um trabalho que exigia a participação das pessoas, o convívio, etc. E a possibilidade de fazer um trabalho com esse tipo de envolvimento é completamente diversa da de expor numa instituição em que as pessoas não estão envolvidas. Pudemos trocar, inclusive, uma série de informações, idéias, conversas sobre as possibilidades entre o Alpendre e o Agora/Capacete, tanto diferenças quanto afinidades.
Coincidentemente, uma semana depois o Eduardo Frota estava no Rio de Janeiro. E ele pôde falar sobre o seu projeto Alpendre no Agora/Capacete também. Pudemos veicular uma série de informações sobre o papel do Alpendre em Fortaleza como sendo até diferente do papel do Agora/Capacete no Rio de Janeiro, da presença do Alpendre como uma instituição efetivamente fomentadora da produção em Fortaleza. Quer dizer, promovendo a realização de novos trabalhos, o encontro de novos artistas com outros artistas e também permitindo que esses novos artistas debatam suas produções e realizem trabalhos, diferente de outros locais que apenas recebem exposições prontas, como Centros Culturais que recebem tudo pronto e que, portanto, não têm o papel de fomentadores. Pareceu-me francamente que o Alpendre também passa por essa questão mesmo da incorporação em termos de arte e vida, das demandas dessa organização, dessa pequena instituição, com a prática desses organizadores. Não são simplesmente funcionários, mas são mesmo pessoas engajadas no fomento da produção do debate da arte contemporânea.
NOTAS
[1] Disponível para download em http://www.ceiaart.com.br/br/projetos/visivel-invisivel.
[2] Grupo criado em 1990, por artistas que então residiam no Rio de Janeiro. Compunham o grupo inicialmente Carla Guagliardi, Eduardo Coimbra, João Modé, Márcia Ramos, Marcus André, Ricardo Basbaum, Rodrigo Cardoso, Rosângela Rennó e Valeska Soares, aos quais juntaram-se posteriormente Analu Cunha e Brígida Baltar. O Visorama produziu e organizou ciclos de debates no Rio de Janeiro e São Paulo e os simpósios “Visorama na UFRJ” e “Visorama na Documenta” (ambos em 1992).
*O texto O papel do artista como agenciador de eventos e fomentador de produções frente à dinâmica do circuito de arte foi transcrito de uma palestra apresentada no CEIA, em 2001, publicado no livro “O Visível e o Invisível na Arte Atual” (CEIA), organizado por Marcos Hill e Marco Paulo Rolla, em 2002. Foi publicado também no livro Manual do artista-etc (2013), de Ricardo Basbaum, e na mostra do acervo HIPOCAMPO #5, em abril de 2019. A imagem de capa dessa publicação é de Leo Bittencourt.
Ricardo Basbaum (São Paulo, Brasil, 1961). Vive e trabalha no Rio de Janeiro. Atua a partir da investigação da arte como dispositivo de relação e articulação entre experiência sensória, sociabilidade e linguagem. Tem desenvolvido um vocabulário específico para seu trabalho, aplicado de modo particular a cada novo projeto. Participa regularmente de exposições e projetos desde 1981. Exposições individuais recentes incluem sistema-cinema: êxtase & exercício (Galeria Jaqueline Martins, São Paulo, 2018),Você gostaria de participar de uma experiência artística? (Dragão do Mar, Fortaleza, 2018), the production of the artist as collective conversation (Audain Gallery, Vancouver, 2014) e re-projecting (london) (The Showroom, Londres, 2013). Participou da documenta 12 (2007). Teve seu trabalho incluído no 35º Panorama da Arte Brasileira (MAM São Paulo, 2017), na 20ª Bienal de Sydney (2016), A Singular Form (Secession, Vienna, 2014), Disparité et Demande (La Galerie, Noisy-le-Sec, 2014), entre outros eventos. Autor de Manual do artista-etc (Azougue, 2013). Professor Visitante da Universidade de Chicago (2013). Professor do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense.