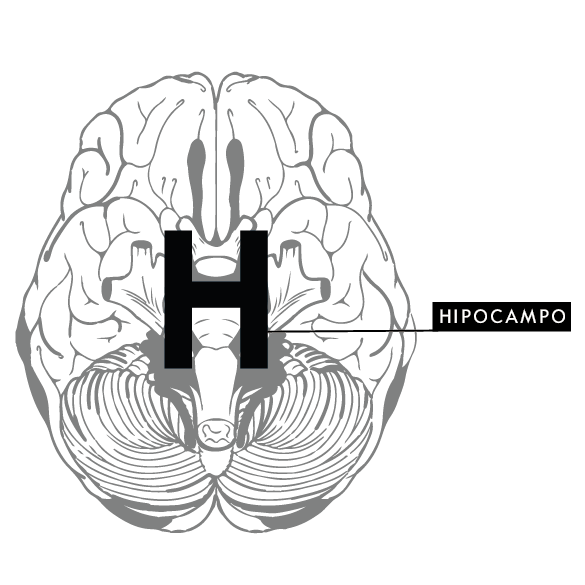1. Introdução
“Faz tudo como se alguém te contemplasse.”
(Epicuro)
O presente trabalho pretende ser uma análise da curta-metragem Film de 1965, cujo roteiro foi desenvolvido pelo dramaturgo Samuel Beckett, e que acabou por se concretizar como o seu único filme. Apesar de ser uma obra isolada do restante da produção de Beckett, Film possui características e discursos extremamente relevantes para o estudo do fenómeno cinematográfico. Já em seu próprio título, fica clara a metalinguagem que nos espera. Beckett idealizou um verdadeiro tratado sobre a representação e Alain Schneider concretizou-o.
Atrás da narrativa simples – porém, por vezes, difícil de apreender – encontramos conceitos fundamentais para a Arte muito bem apresentados: a ideia de arte como simulacro, como reflexo de uma realidade (seja ela real ou não); e a necessidade da arte moderna de questionar seus próprios meios para aprimorar-se e manter-se viva. Em Film temos a oportunidade de perceber a potência da técnica cinematográfica e aquilo que poderia ser tomado como uma simples “inabilidade” técnica, acaba por concordar com o discurso do filme: as trepidações da câmara, os raccords “violentos”, causam em nós, espectadores, o mesmo efeito que a nouvelle vague francesa causou (com, por exemplo, os falsos raccords de Jean- Luc Godard em O Acossado): a técnica exposta nos faz lembrar que o objecto visionado não é um reflexo transparente e confortável da realidade, mas sim a construção trabalhada de uma artista.
Portanto, é imprescindível falarmos da câmara personificada de Beckett e Schneider, pois é justamente aqui que reside com maior força a metalinguagem do filme: é ao criar um personagem que é vulto, duplo, imagem, representação e dar a esta personagem uma câmara em primeira pessoa (subjectiva), que mais fortemente questiona-se a Arte e o Cinema: “de quem é esse olhar nítido?”, pergunta para a qual a resposta possível seria “é de um duplo”. E se o duplo que a arte é possui a capacidade de subjectivar o real artístico (fílmico), então estamos dentro de um labirinto engenhosamente construído. E analisar Film é justamente isso, percorrer um labirinto intrincado.
(a) Palavras-chave: Duplo, representação, cinema.
(b) Apresentação da obra: Um homem com o rosto coberto atravessa um pátio, esbarra em algumas pessoas, parece amedrontado e perseguido. Entra em um quarto e sistematicamente anula todos os olhares presentes (do cão, do gato, do peixe, do pássaro), fecha as cortinas, cobre o espelho e aniquila toda forma de representação (ilustração, fotos). Sabemos que ele é observado por algo ou alguém e quando ele adormece, esse algo consegue colocar-se diante do homem, este acorda e vemos que o perseguidor era justamente ele próprio.
2. Análise
Film inicia com um grande olho, doente e baço que nos fita. Um super-olho que imediatamente nos remete ao olho de Dziga Vertov em O Homem da Câmara de Filmar, o supra-olho, a percepção omnisciente e omnipresente do mundo e das realidades. Beckett imprime nesse primeiro plano o conceito base da tese que fará desfilar em sua curta- metragem: ser é ser percebido (Esse est percipi, do filósofo irlandês George Berkeley). Mas aqui (diferentemente do olho de Vertov) somos obrigados a perceber que este olhar sem fim não pousa necessariamente no mundo, mas sim, obrigatoriamente, sobre si mesmo. É uma ferramenta de auto-reflexão, um mecanismo infinito de se auto-ver, ou melhor dito, de dissecar- se a si próprio a partir da aparência.
E se a aparência, em todas as artes visuais, é sempre ponto de embate (representação versus significação), é porque a aparência estética é resultado de algo muito mais ancestral do que a estética: a necessidade Humana de fazer significar. E no Cinema, arte por excelência da burguesia, trunfo da industrialização, as imagens continuam a somente “servir” (servir em sentido lato, não pretendo atribuir de forma alguma uma funcionalidade ao cinema) para saciar nosso instinto primordial de ver imagens projectadas (facto que sociologicamente fica claro quando analisamos os registos do cinema primitivo dos irmãos Lumiére, que nada ou pouco tinham de ficcional), portanto, somos impelidos a remeter o efeito do cinema ao mito platónico da caverna.
E Beckett consegue comprimir com primazia toda a ideia da representação, ao evocar Narciso e dar o corpo duplicado de Buster Keaton para solidificar o mito do reflexo na água. Mas o conflito é primordial e aqui encontramos não o encanto e paixão pelo reflexo, mas o repúdio e terror a toda e qualquer representação e, principalmente, horror à duplicação de si próprio, à própria imagem concretizada fora de si.
O plano seguinte ao olho é o de um muro imenso e a oposição entre um plano de detalhe e um plano de conjunto (a câmara passeia pelas pedras desse grande muro), nos faz de alguma forma perder o referencial do espaço, não sabemos a real dimensão do objecto (ele é imenso ou nós é que estamos muito próximos dele?), até que a câmara nos mostra todo o conjunto. E é neste conjunto que vemos a personagem de Buster Keaton caminhando com o rosto coberto, muito rente ao muro, coagido e amedrontado. Ele esbarra em um casal que lê um jornal e parte. Mas a câmara retorna ao casal e é neste momento que eles se horrorizam e nós vemos o horror deles através dos olhos do duplo.
O homem entra em um prédio, seguido de seu duplo-câmara perseguidor. A senhora que desce as escadas também vê o duplo e cai. Em ambos os terrores que o duplo causa (e que, por vezes, somos levados a pensar que é a câmara simplesmente) nos impelem a acreditarmos que o que estas personagens vêem é algo terrível, mas somente saberemos se realmente o é no desenrolar do filme.
Já dentro do quarto de paredes decrépitas, onde a personagem descobre seu rosto – em sinal de algum conforto com o espaço -, há uma coreografia entre a personagem e a câmera-personagem, não sabemos ao certo se é o primeiro que se oculta do segundo, ou o segundo que evita o rosto do primeiro.
A personagem de Keaton se põe a excluir todos os olhos presentes (nesta cena há uma gag própria do humor que marca a carreira de Keaton, com a saída e entrada do cão e do gato) e a aniquilar as representações (as fotografias, o olho de Deus na parede). E mesmo assim, a personagem continua acuada naquele espaço privado, é forçada por algo invisível a caminhar rente a parede para fechar as cortinas e vê, obsessivamente, olhos em tudo: no encosto de madeira da cadeira, no envelope fechado.
E quando parece calmo, seguro e arrisca-se a cair no sono é que nós temos consciência do real jogo que reside ali: realmente ele é perseguido, realmente é ele quem escondia o rosto do alcance do outro par de olhos ali presente.
E quando, ao final do filme, dá-se a cena terrível de reconhecimento, onde o Homem e seu Duplo se encontram e se olham, percebemos que, apesar de todo o absurdo da cena, o discurso é claro: o Homem moderno, com sua identidade fragmentada[1], é sempre perseguido por uma ideia de imagem, constrói a imagem de si próprio, baseia-se nela. E o horror do personagem de Keaton era justamente ele mesmo, mas não interiorizado e sim fora de si, os seus olhos é que detinham a grande capacidade de reprovação, de observação. A auto-crítica concreta.
Schneider e Beckett construíram uma voz diferenciada para os planos subjectivos da personagem e de seu duplo. Essa distinção, por vezes, é pouco clara ou até mesmo falha[2], mas pressupunha uma lente baça para o olhar da personagem (objecto) e uma recorrência de planos contra-picados; e uma lente nítida para o olhar do duplo (imagem), e o uso continuado de planos picados. Essa distinção por vezes não comunica claramente já que, em diversos momentos do filme, o que é tomado pelo espectador como um plano neutro, de um narrador não apresentado, na verdade pertenceria ao olhar do duplo. Mas, afora essa dificuldade (que é amenizada com um visionamento cuidadoso), percebemos muito claramente o desconforto e dificuldade que é para a personagem (objecto) ver o mundo. Seu olhar baço é discursivamente forte e acaba por legitimar o contra-ponto do olhar do duplo.[3]
Film certamente é experimental, mais ainda, é um filme tese filosófico. Beckett utiliza- se das ferramentas e linguagens cinematográficas para construir um discurso complexo sem palavra sonora alguma (o único som do filme é um “shhh” da mulher com quem a personagem esbarra). E Film faz-nos pensar muito, é impossível sair incólume desta experiência. E também por isto é uma obra de arte tão poderosa, pois, se aplicarmos o conceito de Kant sobre o que é a Arte, vemos uma correspondência perfeita: a arte é capaz de, mesmo fugindo ao conceito aglutinante de material dado, provocar muito pensamento. E Film, além das diversas emoções estéticas, causa-nos principalmente um derramamento de reflexões sobre a identidade, sobre a representação, sobre a Arte, sobre o Cinema.
3. O Duplo
O duplo evocado em Film já mereceu estudos aprofundados tanto no campo da antropologia/sociologia cultural, quanto no campo das artes. Edgar Morin em O Cinema ou O Homem Imaginário concretiza um estudo sobre o duplo que é o equilíbrio exacto entre seu impacto sociológico e artístico, portanto, suas teses são aqui chamadas.
Morin concentra seu trabalho acerca do cinema em questões que envolvem principalmente a sétima arte como fenômeno sociológico, portanto, os tipos de relações que surgem do contacto entre o cinema e o espectador são seus focos de estudo. Morin busca o que há de novo em algo mais antigo, a percepção humana da realidade e da representação. No entanto, para a análise em questão, enfocarei a relação entre o Homem e a imagem representada, e como esta relação foi alterada ou potencializada pelo cinema, em outras palavras, um estudo sobre o duplo.
Se analisarmos as temáticas dos primeiros filmes da história do cinema, constataremos que compreender o êxito dos irmãos Lumière é bastante simples quando leva-se em conta a natureza humana: os Lumière trouxeram para o ecrã, principalmente, cenas quotidianas do mundo, que acabaram por chamar tanto ou mais atenção do que cenas pitorescas ou exóticas. Isso se deve ao ancestral encanto do Homem pela imagem enquanto representação. Isto é, claramente, os filmes sobre terras longínquas atraiam as atenções, mas para o Homem o mais inovador era ver o “real”, o seu mundo transfigurado em imagens de luz que moviam-se e “existiam” tal e qual o mundo do lado de fora. Breton foi assertivo ao dizer que “no fantástico, não havia senão realidade”.
Vislumbrar o quotidiano não significava colocar uma moldura através da qual o Homem veria as ruas, as fábricas e as pessoas, mas sim ver todas essas coisas apresentadas fora de seu contexto e envoltas pela “mágica” de ser o mundo sem o ser de fato, ou seja, um espelho fotogénico da realidade.
O Homem dos finais do século XIX conhecia o real representado pela pintura realista e pela fotografia (enquanto imagem imortalizada com o perfeccionismo da máquina que traduz, ponto por ponto, o mundo para um papel preto e branco, fazendo aderir o referente no objecto[4]). Podemos, dentro deste contexto, imaginar o espanto e inovação que foi o cinematógrafo, por este devolver ao Homem sua figura e seu espaço integrado com o movimento. A imagem do real desmaterializada e projectada com a corporeidade do volume e da perspectiva dos movimentos reais.
Apesar da aparente objectividade da câmara, algo se modifica quando o real é transmutado para a grande tela. Portanto, o atractivo não é o real, mas sim a representação do real. A esta atracção, Morin dá o nome de fotogenia, fenómeno que é salientado pela fotografia e que ganha nova dimensão com o cinema.
Epstein define a fotogenia como tudo aquilo que é melhorado pela representação fotográfica ou cinematográfica. Devemos entender este fenómeno como uma qualidade inerente à máquina e que deposita no representado uma atmosfera de lenda, a partir da imortalização de um momento efémero.
Imbuído desta mais-valia fotogénica também está o duplo, que acaba por ser uma transcendência técnica da fotogenia, por não ter de ser, necessariamente, criado por uma objectiva.
Todas as coisas podem possuir duplo, basta que elas sejam vistas através do reflexo, do espelho ou da memória. E é neste último filtro, a memória, que reside a chave para o duplo e o Homem: o mundo está duplicado dentro dos homens em imagens mentais. Assim, o duplo pode ser uma imagem (reflectida, espelhada) ou uma imagem mental que por si só já é um espelhamento da realidade. Portanto, todo objecto possui uma imagem e a partir desta o Homem constrói sua imagem mental.
É fácil exemplificar isto se pensarmos em um objecto que vimos anteriormente. O que veremos ao rememorá-lo será justamente uma imagem mental deste objecto, uma projecção dele que, provavelmente, será diferente do próprio. Podemos assim concluir que o mundo das imagens desdobra incessantemente a vida, logo, a imagem e o duplo são modelos recíprocos um do outro.
O cinema apresenta-se como ferramenta ideal para materializar o duplo, já que possui diversas características capazes de intensificar o poder afectivo das imagens: reproduz o real quase em totalidade (imagens, sons, cores, movimentos), soma-lhe o carácter fotogénico da objectiva (imortaliza, lança ao real a bruma do onírico) e projecta suas imagens desmaterializadas sobre um ecrã que é como um portal espacial e temporal de fantasmas. Os mortos do cinema vivem eternamente no ecrã. Os duplos todos, dos espaços e das gentes, são autónomos dentro da planificação da tela.
De certa forma podemos atribuir ao duplo cinematográfico grande parte do sucesso do cinema. Na sala escura as projecções ganham forma, força onírica e autonomia, de tal forma que facilmente interiorizamos as experiências deste espaço e elas chegam a nos bastar, suprimindo o real, o não vivido.
Se pensarmos no mito bazaniano do cinema total veremos que este é a totalidade do real duplicado, isto é, seria a possibilidade de projectar hologramas que contivessem todas as características do real (odores, temperaturas, volumes, texturas), o mundo convertido – em sua totalidade – em duplos.
4. Conclusão
Pretendo ter conseguido apontar com este trabalho a forma como Samuel Beckett e Alan Schneider compuseram uma obra genuinamente cinematográfica, corrompendo alguns lugares-comuns da linguagem cinematográfica para criar um discurso contundente e artístico sobre o Homem e, acima de tudo, construir um cânone sobre a representação.
Beckett valeu-se do duplo, percepção inerente aos Homens, para – através do médium do Cinema – expressar sua visão de mundo: o Homem pode subverter o espelho e ter, sim, uma imagem de si próprio. E se quisermos nomear esta imagem, podemos chamar-lhe consciência ou pensamento ou ainda, imagem mental. A percepção do mundo é formada por imagens que retemos das coisas e dentre todas as coisas do mundo, temos também uma imagem de nós mesmos, que pode ser próxima ou distante da realidade, mas certamente, é a imagem mais acertada, pois é formada do interior para o exterior. É uma imagem germinada na terra que a cultiva e, se em Film esta imagem é motivo de terror, é ela também a única e final possibilidade de saber-se ciente de si próprio. Porque se “ser é ser percebido”, invariavelmente é também perceber-se.
5. Bibliografia
BAZIN, André. O que é cinema? Editora Brasiliense e Livros Horizonte, Lisboa, 1992. BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Edições 70 LTDA, Lisboa, 2006.
BORGES, Gabriela. O Olhar Voraz da Câmera-personagem no Filme de Samuel Beckett. Revista Olhar UFSC no 8, São Carlos, 2003.
DELEUZE, Gilles. Cinema I – A Imagem-Tempo. Editora Brasiliense, São Paulo, 2009. MORIN, Edgar. O Cinema ou o Homem Imaginário. Relógio D ́água Editores. Lisboa, 1997. LOTMAN, Yuri. Estética e Semiótica do Cinema. Editorial Estampa. Lisboa, 1978.
NOTAS DE RODAPÉ
[1] “O poeta é um fingidor./ Finge tão completamente/ Que chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente.” (Pessoa, Fernando. Autopsicografia.)
[2] “Porém, numa pesquisa realizada em 1970 durante a exibição do filme em Nova York, os espectadores confirmaram que não entenderam a diferença dos pontos de vista a partir do uso da imagem desfocada.” Borges, Gabriela. O olhar voraz da câmera-personagem no filme de Samuel Beckett. Pg 04.
[3] “Beckett a propósito de Film diz que é preciso distinguir o que a câmara OE vê e o que a personagem vê, `a percepção por OE no quarto e a percepção do quarto por O ́: é melhor evitar o plano duplo, a superposição, e marcar a distinção qualitativa dos dois tipos de imagem, até a identificação final de OE e de O” Deleuze, Gilles. A Imagem-Tempo. Editora Brasiliense, pg 180.
[4] Barthes, Roland. A Câmara Clara.
Assista a um trecho de Film:
Para adquirir Film, em DVD ou Blue Ray, acesse http://filmbysamuelbeckett.com.
Maíra Freitas (1985, Campinas) é artista, pesquisadora, curadora e arte-educadora. Também mulher cisgênera, parda, lésbica e mãe solo. Sua pesquisa poética parte do desejo de criticizar as relações entre cultura e natureza e desdobra-se em múltiplas linguagens, passando pela arte do vídeo, fotografia, pintura expandida, instalação e arte têxtil. Expôs na
individual Solo da maternagem solo; e nas coletivas Videolatinas; Plantão, Ateliê 397; (Re)existências, ANPAP; e 3a Mostra Unificada. Curou o II Festival Lacração; a exposição coletiva (Cor)po paisagem; e a individual Desvio-Devir, no SESC Sorocaba. Doutoranda em Artes Visuais (Unicamp), dedica-se ao estudo das artes do vídeo e suas relações com gênero, sexualidade e racialidade.