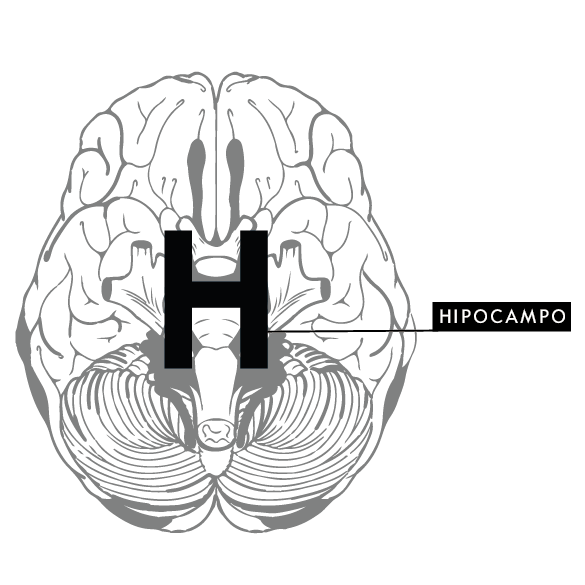Maíra Endo*
Maíra Freitas**
Sofia Porto Bauchwitz***
“A des-outrização é uma promessa de reimaginação, assim como uma demolição de cartografias de poder e uma reinvenção de geografias. A des-outrização é uma recalibragem das relações humanas e não humanas, espaciais e sociais, independentemente dos poderes estabelecidos, mas baseada em uma interdependência de todos os seres animados e inanimados que coabitam esse mundo. (…) A des-outrização precisará incluir falar, apontar, acusar publicamente as desigualdades, assim como propor modos alternativos de existência, considerando um mundo de justiça e equidade”.
Bonaventure Ndikung, em Des-outrização como método[1]
A 10ª Edição da Hipocampo adensa na proposta de pisar o chão para a aparição de subjetividades, narrativas, fabulações e invenções. Esta edição abre um leque de exercícios poéticos compostos de vídeos, textos, narrações, fotografias (feitos por pessoas e por máquinas) que se debruçam sobre questões identitárias e que tentam, cada um à sua maneira, re-escutar silêncios, compreender ruídos e desfazer castelos.
Repetir histórias é a ferramenta mais antiga usada para construir a noção de cultura, pertencimento e identidade. Eduardo Viveiros de Castro menciona em A Inconstância da Alma selvagem, como os indígenas brasileiros foram comparados pelo jesuíta Antônio Vieira à murta – um arbusto, uma planta: aceitavam docilmente a forma dada, mas igualmente rápido voltavam a crescer como quem esquece os ensinamentos aprendidos. Para o padre, éramos um povo descrente até que passávamos a crer, mas desacreditávamos até nesse momento, sempre indecisos e indiferentes ao dito. Viveiro de Castro diz também que “índio não é uma questão de cocar de pena, (…) nesse sentido estereotipificante, mas sim uma questão de “estado de espírito”.(…) um movimento infinitesimal incessante de diferenciação, não um estado massivo de “diferença” anteriorizada e estabilizada, isto é, uma identidade.” A imagem de um corpo e de uma identidade que se fazem de traduções fragmentárias de um outro sempre ali colocado (como presença e ausência), ao tempo em que busca constantemente devir outro, nos aproxima de uma ideia de entidade errante, sem forma fixa, com qualidades monstruosas (o monstro como aquilo sem ordem classificatória, sem um lugar cravado no mapa). Qualidades botânicas, talvez, pois, como Michael Marder coloca em What Is Plant-Thinking?, “o sintoma mais evidente da não-identidade da planta é a sua inquietude, refletindo a plasticidade e a inquietude da vida mesma: seu esforço incessante em relação ao outro e em tornar-se um outro pelo crescimento e reprodução” E por que não lembrar que já na Ilíada cantavam: “por que queres saber minha origem? Os homens são como as folhas, (…), elas caem e são arrastadas pela terra.”.
O embate entre Natureza e Cultura está colocado. No limite, não há natureza para além da cultura, ou seja, não há possibilidade humana de leitura da natureza para além de nossas lentes culturais, se há pacto identitário é pela urgência de se nomear a diferença em luta pela equidade. O abismo ontológico é este, que nos separa dos animais e das plantas, e que nos possibilita pensar por eles (possibilidade apenas humana, dizem, posto que o bicho não perde seu tempo em devaneios). Poderíamos, como exercício de escalada para fora desse precipício, brincar mais de imaginar outras lentes pelas quais olharmos o mundo boquiabertos, em estado sempre de espanto e incompreensão, quase sem palavras. Reinaria um silêncio solene antes do ruído das muitas línguas.
E o que será que estas outras lentes imaginadas nos revelariam? Será que este abismo entre nós, animais ditos humanos, e os outros animais de fato existe ou seria mais uma ficção criada e suportada pelas lentes culturais vigentes? Diante das tantas camadas de crise que permeiam a vida contemporânea, devemos nos perguntar se as lentes vigentes não seriam o motivo da dificuldade de entendermos, de uma vez por todas, que toda nossa inteligência não nos faz mais capazes de existir do que os outros animais e formas de vida. Na ilusão que construímos, reconhecemos nossa superioridade dentro do mundo vivo. As outras formas de vida gritam juntas: vocês não estão no comando. Se há a possibilidade humana de entender a natureza como o que é e não como o que supomos ser, talvez ela somente se construa quando compreendermos nossos movimentos enquanto parte da pluralidade, diversidade e violência da própria natureza. Quando, talvez, se fizer possível abrir mão daquilo que a colonialidade nos ensinou sobre a terra, a água, o fogo e o ar. E, convenhamos, a ciência ocidental e os pensamentos lógicos sobre o mundo natural não conseguem dar conta das respostas que pedimos. Faz-se urgente entender que tipo de conhecimento estamos deixando morrer dentro das comunidades originárias em cada canto do planeta. Faz-se urgente a criação de alianças com esses povos que representam a resistência diante dos esforços colonizadores, cujas existências são constantemente ameaçadas pelo avanço arrebatador dos interesses capitalistas.
Paul Preciado[2] diz que “o feminismo é um animalismo. Ou, em outras palavras, o animalismo é um feminismo expandido e não antropocêntrico”. As primeiras máquinas foram animais: escravos, mulheres (trabalhadoras sexuais e reprodutivas) e outros animais subjugados. Enquanto isso, “o humanismo inventou outro corpo que ele chamou de humano: um corpo soberano, branco, heterossexual, saudável, seminal. (…) O animalismo revela as raízes coloniais e patriarcais dos princípios universais do humanismo europeu. O regime da escravidão e depois o do salário aparecem como fundamento da ‘liberdade’ dos homens modernos; a guerra, a competição e a rivalidade são os operadores da fraternidade; a expropriação e a segmentação da vida e do conhecimento, o reverso da igualdade”.
Se somos parte de algo diverso, somos também diversidade. Há que se voltar o eixo para a humanidade que reside em cada um desses seres diversos. O Outro somente se estabelece a partir da ficção narrativa de um sujeito universal, que seria o “eu”. A mulher então é posta como Outro, a mulher negra como Outro do Outro, a travesti como Outro do Outro do Outro e assim seguindo em margens e bordas a partir de tudo aquilo que nos abisma do sujeito universal. Se há Outro é porque há diferença, como nos ensinou Derridá. Se há Outro é porque existe hegemonia. Mas recusar a outrização não significa abandonar o pacto identitário que move e garante vida e direito à vida para tantos grupos sistematicamente subalternizados pelos fazedores da Lei. Pensar outras palavras com as quais nos fazer e refazer, que incorporem a desoutrização ou a não-identidade, é um exercício imaginal. Quem vai dizer do mundo? Quem vai dizer de mim? Ainda que fale línguas desconhecidas, ainda que o dito não se compreenda, o Outro diz. E diz enquanto si, em recusa aos gestos culturais de torná-lo Outro. As escutas para as muitas vozes apontam caminhos sem tempo definido, mesmo quando o dito é inteligível. O dito do outro persiste em sua inacessibilidade, não sendo possível desvelar sua figura para falar do homem-humanidade.
Marcar a diferença enquanto elemento constitutivo também de nossa forma de estar no mundo é necessário para a luta por uma aproximação à Humanidade. Mesmo que a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 afirme, em seu Artigo Primeiro, que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”, ainda precisamos perguntar: Somos humanas? Krenak pergunta como é que nós construímos a ideia de humanidade. Uma cara e uma cor deram, em geral, o tom para ela. Podemos dizer que uma certa identidade conformou toda a ideia de humanidade com a que aprendemos a nos medir. Adiar esse fim anunciado vai exigir, aparentemente, a destruição e reconstrução dessa ideia de humano. Vai exigir a atualização de nossas lentes culturais. Entender a humanidade como unidade homogênea, como massa lisa formada por bilhões de elementos que perseguem um único modelo de existência, é mais uma ilusão criada pelas lentes culturais que mediam nossa visão de mundo, moldadas pelos povos e culturas hegemônicas.
O cantor, compositor, poeta e multiinstrumentista brasileiro Chico César lançou, em setembro de 2019, “O amor é um ato revolucionário”, álbum declaradamente ativista. Na canção “Eu quero quebrar”, ele entoa os versos
Espero que se acabe agora a espera
Já era basta chega pra mim deu
O anjo está solto besta-fera
O zoo explodiu bicho fugiu sou eu
Eu quero que a cidade derreta
Se ninguém aqui é cidadão
Vou sair do coma pro cometa
Cometer loucura e revolução
Há que se revolucionar – esse gesto filho da revolta – para que sejamos Humanas. Porque ainda não somos. Enquanto todas não forem cidadãs, nenhuma será. Se Albert Camus fala sobre “O homem revoltado”, Abdias Nascimento responde com “O negro revoltado”. Sojourner Truth, no emblemático discurso de 1851, na Women’s Rights Convention em Akron, em Ohio – Estados Unidos, pergunta “E não sou uma mulher?”. Porque uma mulher negra é sempre uma mulher negra, não é uma mulher, nunca um homem e muitas vezes sequer é uma pessoa perante a Lei.
E se enquanto todas não forem cidadãs, nenhuma será, há de se parar para pensar: quais devem ser nossas escolhas hoje para que essa venha a ser uma realidade num futuro não tão distante? Podemos começar reconhecendo a riqueza pelo que é e representa: concentração injusta de recursos e poder, processo desumanizador e gerador de violências de todo tipo. Injusta porque, convenhamos, não existe trabalho no mundo que valha 1.000, 10.000 ou 100.000 vezes mais que outro. Se o racismo é estrutural nas sociedades contemporâneas, a concentração de recursos e poder também o é. O acúmulo de dinheiro não deveria, portanto, ser visto como símbolo de sucesso, algo a ser almejado ou valorizado. Num segundo momento, podemos reconhecer nossa covardia ao fingimos não ver a dor dos que sabemos existir, imersos na ilusão de que a miséria é uma escolha, um lugar habitado por pessoas não merecedoras. Qual o caminho para a reconstrução de uma teia de novos valores que sustente nossa humanidade? Nossas lentes culturais apóiam a construção de sociedades fracassadas, já sabemos.
É urgente lavar a outrização e o peso violento da colonialidade com a força e a justeza de uma onda salgada que vem, regida pela lua, e leva embora um castelinho de areia. Há que se aprender com a Natureza que vem e lava a criação arquitetônica do Norte e come aquilo que é dela, tomando de volta cada grão de areia. A 10ª Edição da Hipocampo parte desse desejo, o de poder sonhar refazimentos, acolhendo recuos e negociações, sentando à mesa para exercitar diplomacia com aqueles que detém o poder e ditam o curso da história. Mas, também, trazendo algum canto que eles desconheçam e que seja capaz de perturbar seus sonhos tranquilos, porque se “ocê não tá lembrado, dá licença de eu contá”.
NOTA
[1] Des-outrização como método. Bonaventure Ndikung. In: Comunidades imaginadas, 21ª Bienal de Arte Contemporânea SESC_Videobrasil, pg. 64.
[2] No livro Um apartamento em Urano: crônicas da travessia.
*Sou Maíra, mulher cisgênera, mestiça, paulistana, campineira, mãe de Olivia, companheira de Fernando, trabalhadora da cultura e da arte, privilegiada pelas conquistas de minha mãe e meu pai dentro de um contexto capitalista. No Brasil, apesar de mestiça, sou tratada como branca. Recentemente, me descobri não-branca fora daqui. É certo dizer que ali não sei ao certo como sou lida mas sei que não como branca. Sou filha de Maria Carolina, mulher branca, de sangue europeu e também indígena, nascida em família de agricultores, criada na roça junto a seus 11 irmãos. Mãe em primeiro lugar e eterna pesquisadora dos assuntos que lhe interessam, entendedora das plantas e da alimentação, praticante das danças circulares. Crê no espiritismo e na homeopatia unicista. Formou-se em direito mas é descrente na profissão. Pariu-me de cócoras, sem anestesia, e me deu o nome do livro do Darcy Ribeiro. É mineira de nascimento e paulistana de coração. Também sou filha de Tadashi, imigrante nascido no Japão, sangue purinho como eles gostam. Chegou ao Brasil junto com sua família no pós Segunda Guerra, no porão de um navio cheio de ratos que atracou em Recife depois de meses de viagem. Rodaram muito trabalhando na roça. É o caçula e foi o único dentre os 9 irmãos a fazer faculdade. Ao longo dos anos, ele e minha mãe conseguiram acumular os bens de onde eu e meus irmãos extraímos nossos privilégios. Meu pai abriu mão da parentalidade diária para ganhar dinheiro. Minha mãe abriu mão de alguns sonhos para criar seus 3 filhos. Sou filha deles, dos meus irmãos e também de todas as pessoas que atravessaram o meu caminho, e me fizeram sentir e/ou pensar. Entendo que devo partilhar meus privilégios de alguma maneira. Busco oferecer às comunidades onde me insiro minha força de trabalho, constantemente alimentada pela crença na importância da arte e da cultura na construção de mundos que abracem a pluralidade, o dissenso e a paridade. Há mais de uma década mais da metade dos trabalhos que realizo é não remunerado. Feitos com amor e alegria.
**Vermelho me marca. Marca meu corpo de mulher cisgênera, parda, lésbica, mãe solo, latino-americana que experimentou o deslocamento pro Norte e se entendeu ainda menos branca do que antes. Sudestina nesse país continental, filha de Mara, nascida em Boraceia, antes nomeada Vila Floresta no interior de São Paulo; e filha de Félix, nascido no povoado de Cariacá, em Senhor do Bonfim, interior da Bahia. Sou também filha dos vinis que ouvi e dos livros que li, pesquisadora em um Brasil que nega a ciência, trabalhadora da cultura, da arte e da educação em um país arrasado como o nosso. Assino Maíra, nome que minha mãe colheu em Darcy Ribeiro, e Freitas, sobrenome de minha mãe que dei de lastro para sobrenomear minha filha. Estou hoje, dia 15 de dezembro de 2021, filha da dor de saber ausente Bell Hooks que, falando sobre amor, me pôs no colo e, falando sobre erguer a voz, me reposicionou no mundo. Que o tempo seja justo com sua memória.
***Meu nome é Sofia, sou artista, professora e pesquisadora. Estudei os escritos da minha avó Anita, pesquisei o Artista Errante e pesquiso sobre avistamentos. Assumo a indecisão como forma de resistência. Me entendo como potiguar, mesmo que nascida em outro lugar. Lá em casa, os brancos sempre foram os outros, embora eu saiba da minha passabilidade. Sou filha de Maria Emília, filha do Norte, de família que migrou o caminho até o Rio de Janeiro, atravessando a Bahia na vida e na morte. Sou filha de Oscar Federico, que tentou me ensinar a tolerar o tédio.