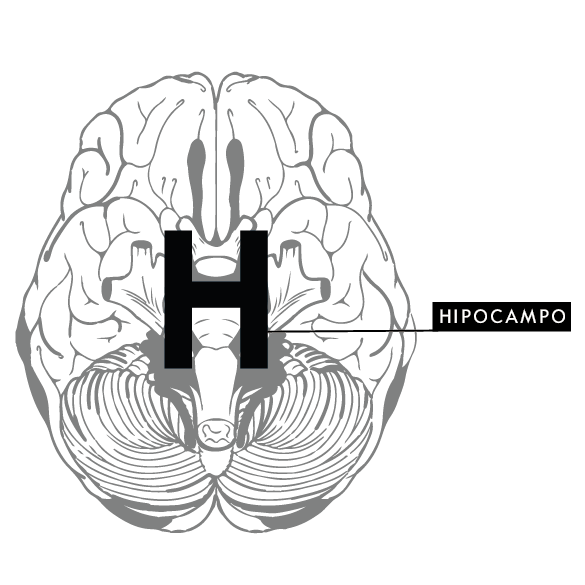Este ensaio[1] pretende levantar algumas questões sobre o significado da presença de corpos dissidentes de gênero na arte visual contemporânea. Tomamos como breve exemplo a obra de vídeo-arte Sérgio e Simone (2009), da artista visual baiana Virgínia de Medeiros. Interessa-nos pensar que corpo é este que se constrói por intermédio do vídeo e como sua representação pode significar a construção de um território de resistência no campo das artes.
A partir do conceito de necropolítica, de Achille Mbembe (2017), buscaremos caminhos para compreender a obra como uma resposta estético-política aos dispositivos de extermínio. Também nos valeremos do conceito de tecnologias de gênero, de Teresa de Lauretis (1994), para refletir sobre as estratégias de criação política a partir da linguagem do vídeo.
A NECROPOLÍTICA
Achille Mbembe, historiador e cientista político pós-colonial camaronês, em Políticas da Inimizade, desenvolve o conceito de necropolítica, como um desdobramento crítico do conceito de biopoder, do filósofo francês Michel Foucault.
Mbembe centra suas reflexões na questão da condição do sujeito negro e do racismo estrutural como forma de exclusão e extermínio estatais. Afirma que
em termos foucaultianos, racismo é acima de tudo uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, ‘aquele velho direito soberano de morte’. (…) Na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição da morte e tornar possível as funções assassinas do Estado. (MBEMBE, 2017, p. 128)
Leomir Hilário, em artigo intitulado Da biopolítica à necropolítica: variações foucaultianas na periferia do capitalismo (2016), retoma a crítica de Domenico Losurdo à obra de Foucault como eurocêntrica por não considerar, por exemplo, o regime escravocrata como o óvulo fundador de pensamentos eugenistas, que desembocariam no regime de extermínio nazifascista; ou, ainda, por não considerar a existência de linchamentos públicos nos Estados Unidos do século XX ao afirmar, em Vigiar e punir, que “a grande ritualização pública da morte desapareceu a partir do final do século XIX” (FOUCAULT, 2009, p. 295). Hilário retoma a consideração de Losurdo para “tentar ir com e para além dessa crítica, escapando da armadilha da conclusão segundo a qual Foucault seria dispensável para o pensamento crítico periférico devido ao seu eurocentrismo”, para, assim, focar-se nas reflexões, vindas da periferia do capitalismo, de Achille Mbembe.
A noção de biopolítica, de Foucault, define-se na capacidade do poder sujeitar os indivíduos, a partir de uma regulação disciplinar sobre os corpos, que são politicamente dóceis e produtivamente úteis, pois
A disciplina é centrípeta, isto é, ela circunscreve e organiza um espaço no interior do qual os corpos são sujeitados. É formada, então, por instituições disciplinares, tais quais escolas, quartéis, prisões, hospitais etc., responsáveis por formar, disciplinar, corrigir e deixar saudáveis os corpos. Interessa à disciplina o corpo vivo e sendo potencializado cada vez mais, pois é dessa maneira que ele pode produzir mais mercadorias. O poder disciplinar, então, não é um poder de morte, mas um poder de vida, cuja função não é matar, mas operar a imposição da vida. (Hilário, 2016, p. 199)
Mbembe dobra o conceito de biopolítica a partir de uma mudança de perspectiva, que deriva de seu lugar periférico dentro do regime capitalista global: agora não mais a vida imposta, mas sim a morte enquanto regime de poder. Para operar essa dobra, Mbembe articula a biopolítica com situações extremas, marginais, como o estado de exceção e o estado de sítio
Examino essas trajetórias pelas quais o estado de exceção e a relação de inimizade tornaram-se a base normativa do direito de matar. Em tais instâncias, o poder (e não necessariamente o poder estatal) continuamente se refere e apela à exceção, emergência e a uma noção ficcional do inimigo. (MBEMBE, 2016, p. 128)
A partir do choque causado entre os três elementos – biopolítica, estado de exceção e estado de sítio – Mbembe define a necropolítica como “a expressão máxima de soberania [que] reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer” (MBEMBE, 2016, p. 123). Portanto, distanciando-se do biopoder, que regula a vida, Mbembe foca-se no poder das forças soberanas de exterminar.
O arcabouço conceitual da necropolítica é desenvolvido, portanto, sob a perspectiva do biopoder, elemento regulador do Estado sob a vida dos sujeitos; articulado com o estado de exceção e o estado de sítio, que constituem um contexto favorável às forças reguladoras no intuito de extirpar as diferenças.
Poderia se pensar que Mbembe articularia seu conceito com contextos unicamente de guerras internacionais ou guerras civis, mas ele expande o poder de atuação da necropolítica para quaisquer regimes que apliquem normatizações de cariz genocida – a fazenda escravocrata, os regimes coloniais, o apartheid. Podemos compreender, portanto, que o conceito de necropolítica se aplica a um conjunto de práticas (estatais ou sociais) de extermínio dos corpos que fogem às normas estabelecidas.
Assim, quaisquer corpos que não estejam dentro da norma hegemônica: homem, branco, heterossexual e cisgênero, estão sujeitos aos efeitos da necropolítica. Todos os corpos dissidentes da norma podem encarnar aquilo que Mbembe chama de inimigo ficcionalizado, já que as formas de construção do inimigo se baseiam em questões disciplinares.
Dentro de uma sociedade heteronormativa como a brasileira, indivíduos que pertençam à comunidade LGBTQI (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexos) são focos potenciais da necropolítica. O Brasil, segundo o Relatório 2017 – Pessoas LBGT mortas no Brasil, do Grupo Gay da Bahia – que desde 1980 atua em defesa dos direitos humanos dos homossexuais no Brasil, tornando-se a associação mais antiga do país para estes fins – contabilizou a morte de
445 pessoas da comunidade LGBT+ (incluindo-se três nacionais mortos no exterior) em 2017 vítimas da homotransfobia: 387 assassinatos e 58 suicídios. Nunca antes na história desse país registraram-se tantas mortes, nos 38 anos que o Grupo Gay da Bahia (GGB) coleta e divulga tais estatísticas. Um aumento de 30% em relação a 2016, quando registraram-se 343 mortes. (GRUPO GAY DA BAHIA)
Em novembro de 2018, os dados divulgados pela ONG Transgender Europe (TGEU) mostram que “Entre 1º de outubro de 2017 e 30 de setembro deste ano, 167 transexuais foram mortos no Brasil. A pesquisa, feita em 72 países, classificou o México em segundo lugar, com 71 vítimas, seguido pelos Estados Unidos, com 28, e Colômbia, 21.”[2] Esses números colocam o Brasil como o recordista mundial de assassinatos de corpos que fogem à heteronormatividade ou que são desobedientes de gênero, nos termos de Jota Mombaça, apesar da óbvia dificuldade de certificar esses dados a nível mundial, com certa subcontabilização dentro do globo, em função do estigma social.
Neste ensaio, pretendemos buscar questões a partir de uma obra que tem como personagem principal uma travesti. A travesti desloca a questão de gênero, tornando-se uma corporeidade desviante da norma ao performar uma feminilidade de dimensão política e inserir-se no tecido social, majoritariamente, à margem. Em um país potencialmente letal para a comunidade LGBTQI, a existência travesti é marcada por um risco de morte ainda maior, pela visibilidade do ser e estar travesti que seu próprio corpo carrega, pela precariedade da vida laboral – comumente, travestis são trabalhadoras do sexo -, e pela objetificação resultante disso.
Apesar da existência de leis, estaduais ou municipais, que criminalizam a homofobia, o aparelhamento da polícia por estratégias necropolíticas impede que a população LGBTQI tenha acolhimento em suas denúncias ou seja protegida de agressões.
Apesar de sua dimensão institucional, a violência contra as mulheres, assim como contra corpos desobedientes de gênero e dissidentes sexuais em geral, está enraizada numa política do desejo que opera aquém da lei. Por isso, ao chamar a polícia para intervir em situações de violência sexista e/ou transfóbica-homofóbica-lesbofóbica-etc., é comum que eles ajam em favor do agressor, pois o que organiza as ações da polícia não é a lei, mas o desejo – que é, nesse caso, desejo de perpetuação desse sistema que garante o direito de gerir e performar a violência não apenas ao estado, mas também ao homem cisgênero. (MOMBAÇA, 2017, p.303)
Essa perspectiva de desamparo institucional, precariedade e vulnerabilidade, gera a necessidade de criação de redes de apoio e proteção dos próprios elementos da sociedade civil e, mais precisamente, da própria comunidade LGBTQI. O cenário brasileiro coloca-se bastante distante de uma política de restituição ou reparação, colocados por Mbembe como elementos necessários para a reconstrução de um mundo que seja de todos. Jota Mombaça, dentro da perspectiva de reconstrução de um mundo que seja de todos, constrói uma tese radical que defende a “redistribuição da violência [como] um projeto de justiça social em pleno estado de emergência e [que] deve ser performada por aquelas para quem a paz nunca foi uma opção” (MOMBAÇA, 2017, p. 305).
Para Mbembe, o conceito de restituição de humanidade aos que “passaram por processos de abstração e coisificação na história” soma-se ao
conceito de reparação [que], para além de ser uma categoria econômica, remete para o processo de reunião de partes que foram amputadas, para a reparação de laços que foram quebrados, reinstaurando o jogo da reciprocidade, sem o qual não se pode atingir a humanidade. (MBEMBE, 2017, p. 304)
Portanto, o projeto de inclusão ao mundo de grupos marginalizados de Mbembe versa sobre a re-humanização dos sujeitos, retirando-os de categorias biologizantes e subalternas; enquanto o projeto de Mombaça parte do pressuposto de que os que estão à margem foram capturados pela violência do mundo e, para construir-se uma relação horizontal, é necessário redistribuir a violência, como uma forma de autodefesa. Mombaça afirma ainda que
Liberar o poder das ficções do domínio totalizante das ficções de poder é parte de um processo denso de rearticulação perante as violências sistêmicas, que requer um trabalho continuado de reimaginação do mundo e das formas de conhecê-lo, e implica também tornar-se capaz de conceber resistências e linhas de fuga que sigam deformando as formas do poder através do tempo. (MOMBAÇA, 2017, p.303)
Assim, a construção ficcional apresenta-se como uma estratégia de re-humanização dos sujeitos e alinha-se com a potência da fabulação da realidade. Essa nos parece ser exatamente a estratégica que a artista visual Virgínia de Medeiros utiliza ao colocar corpos desviantes em ato de fabulação em suas obras, tirando-os do jugo da invisibilidade social e conferindo aos seus corpos a textura potente da fabulação criativa.
Potencializar uma visão coletiva de pertencimento contribui para uma nova prática política, reduzindo a distância entre sociedade civil e poder público. Essa foi a maneira que encontrei de me engajar em questões que envolvem direitos humanos e, ao mesmo tempo, acessar processos experimentais de subjetivação que me permitem chegar a lugares desconectados de normas ou categorias prévias. (DE MEDEIROS, 2017, pg. 417)
Medeiros estampa a existência de corpos travestis como forma de resistência vital. Essa visibilidade conferida por suas obras é, por muitos estratos sociais, encarada como uma forma de violência, já que corpos desviantes deveriam – nessa perspectiva conservadora – manter-se ocultos e circunscritos a guetos. Deslocar da invisibilidade marginal para o protagonismo de obras de arte é uma atitude política radical de combate à necropolítica.
A REAÇÃO
Em História da Sexualidade, Michel Foucault afirma que “As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois pólos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida” (Foucault, 1988, p. 131). Ou seja, o corpo é regulado pelos interesses dos poderes hegemônicos em sua totalidade, incluindo a sexualidade, tanto nas dimensões morais de suas práticas, quanto nas dimensões biológicas, como no que concerne à reprodução. A sexualidade é então encarada na era moderna como ferramenta, como tecnologia sexual utilizada e moldada para responder aos interesses da estrutura produtiva capitalista.
Teresa de Lauretis (1994) problematiza, sob a ótica feminista, algumas questões da abordagem foucaultiana ao apontar o fato do autor ter ignorado as diferenças de gênero na concepção de tecnologias sexuais. Afirma que os sujeitos são “en-gendrados”, isto é, postos dentro dos limites do gênero e que existem, portanto, tecnologias de gênero. Aponta o cinema como uma tecnologia de gênero ao permitir a construção de novas formas do feminino.
Mas o movimento para dentro e para fora do gênero como representação ideológica, que, conforme proponho, caracteriza o sujeito do feminismo, é um movimento de vaivém entre a representação do gênero (dentro de seu referencial androcêntrico) e o que essa representação exclui, ou, mais exatamente, torna irrepresentável. É um movimento entre o espaço discursivo (representado) das posições proporcionadas pelos discursos hegemônicos e o space-off, o outro lugar desses discursos: esses outros espaços tanto sociais quanto discursivos, que existem, já que as práticas feministas os (re)construíram, nas margens dos discursos hegemônicos e nos interstícios das instituições, nas contrapráticas e novas formas de comunidade. (LAURETIS In: HOLLANDA, 1994, p. 238)
É nesse movimento de vaivém entre fora e dentro da ideologia, que Medeiros cria um espaço partilhado para a criação e potencialização da fluidez identitária de gênero, que rompe com o modelo cisnormativo e polarizado entre masculino e feminino, constituindo não somente novas representações, mas novas comunidades.
Ao focar um corpo que é desfocados pela cultura cissexista, a artista resgata o direito à vida e à construção simbólica-subjetiva. Para compreender a construção desse espaço de pertencimento e resistência dos corpos transexuais e travestis nas artes, o pensamento de intelectuais negros como Beatriz Nascimento e Abdias Nascimento podem nos auxiliar na identificação de um espaço similar ao do quilombo. Beatriz Nascimento (2006), em O conceito de quilombo e a resistência cultural negra, parte de uma análise histórica das transformações vividas por essa instituição africana, o quilombo, em período pós-diaspórico para concluir que aquilo que se constituía como uma forma de organização africana e afro-brasileira, vai se transformar em um princípio ideológico.
É no final do século XIX que o quilombo recebe o significado de instrumento ideológico contra as formas de opressão. Sua mística vai alimentar o sonho de liberdade de milhares de escravos das plantações em São Paulo, mais das vezes através da retórica abolicionista. Esta passagem de instituição em si para símbolo de resistência mais uma vez redefine o quilombo. (NASCIMENTO, B. In: RATTS, 2006, p. 122)
Além da própria materialidade de quilombos urbanos contemporâneos, como é o emblemático caso do Aparelha Luzia (São Paulo), idealizado pela primeira deputada negra e transexual da história do Brasil, Érica Malunguinho, os quilombos contemporâneos ultrapassam os espaços físicos de resistência e derramam-se em uma cultura afirmativa revelada pela própria corporeidade dos aquilombados. Os corpos transexuais e travestis presentes em obras de arte são uma forma de expressão da estratégia quilombista.
A obra em vídeo Sérgio e Simone, aqui analisada, data de 2009 e foi selecionada pelo 18º Festival de Arte Contemporânea Vídeobrasil – Panoramas do Sul, em 2013. O vídeo constrói diálogos e fraturas entre uma travesti negra, Simone, praticante do candomblé que ritualiza em uma fonte na cidade de Salvador e fala abertamente sobre sua sexualidade; e o corpo negro de um pastor evangélico, Sérgio, com discurso altamente conservador e moralizante. O grande impasse está no fato de que ambos os corpos pertencem ao mesmo indivíduo, o que suscita discussões sobre a instabilidade identitária, gênero, sexualidade e religiosidade.
Medeiros afirma que “se os movimentos que compõem essas existências são breves, descobri com as travestis a beleza maior da fabulação, que imortaliza a vida” (MEDEIROS, 2018, pg. 25). É justamente pelo poder fabulatório que esta obra não restringe-se a narrar uma identidade travesti, mas sim a pluralidade de sujeitos que são abarcados por esse conceito. É pela via da humanização que a artista escava as camadas de criação e, mais do que identidade, forja uma diferenciação que re-humaniza um grupo comumente estigmatizado e marginalizado.
A artista afirma que, para ler a realidade
precisamos desafiar e questionar as tradicionais e conhecidas mediações entre nós e o mundo, nos recompondo com outros corpos e conhecendo outras pulsações. Acredito que as relações que devemos estabelecer com nós mesmos não sejam relações de identidade, mas antes de diferenciação. Quando nos desprendemos de nós como sujeitos e do mundo como objeto estaremos no movimento da vida, e não mais nas formas como o pensamos para fazê-lo fixo e permanente. (MEDEIROS, 2017, pg. 418)
E é ao estabelecer um mesmo regime de importância visual para o corpo travesti de Simone e o corpo travestido de Sérgio que a obra nos permite enxergar as forças que se chocam: o discurso repressor e normativo de Sérgio, enquanto pastor evangélico, emula o extermínio simbólico de Simone, representando as forças opressoras da necropolítica dentro da própria complexidade da constituição dos sujeitos. Sérgio constrói uma espécie de relicário para Simone, onde sua imagem fotografada, sua expressão de gênero, sua homossexualidade e sua fé constituem elementos que ele próprio, renormatizado, precisa suplantar para se inserir no território dos não-marcados. Simone, por sua vez, constrói seu corpo enquanto território de resistência, já que encontra-se sempre sob o risco de morte, pois “sob o necropoder, as fronteiras entre resistência e suicídio, sacrifício e redenção, martírio e liberdade desaparecem.” (Mbembe, 2017, p. 146). Simone habita um corpo hiper-marcado que é por si só um quilombo simbólico.
Essa obra suscita questões discursivas e estéticas. Parece-nos evidente que o vídeo, enquanto tecnologia social e de gênero, serve de instrumento para a própria construção identitária dos sujeitos que se constituem enquanto corpos representados. Também parece-nos evidente que a presença destes corpos rompe com uma cultura heterocisnormativa da imagem. Dizer que os corpos dissidentes de gênero presentes em obras de artes visuais são uma reação à necropolítica não significa reduzir suas existências a um ponto de resistência, mas também dizer que esses corpos criam gênero utilizando-se dessa tecnologia como território de aquilombamento. Nas manifestações culturais, nos cultos de religiões de matriz africana, em espaços políticos e nas artes é que estes corpos constroem territórios de resistência, pertencimento, representação e criação do que ainda não existe.
Do ponto de vista estético, as questões contornam a qualidade do corpo que se constrói na imagem. Qual é o corpo construído nesse processo de imaginação de um novo projeto de visualidade? Como esses corpos produzem imagens descoladas das representações hegemônicas? Quais são as narrativas possíveis que estes corpos criam sobre representatividade e reparação? Que novas subjetividades se revelam através desses corpos?
Essas questões nos parecem necessárias e urgentes e o processo de investigação demanda um deslocamento de olhar para além dos cânones heterocisnormativos que séculos de visualidade construíram. O pensamento pós-colonial rompe este cenário e nos fornece instrumentos para investigar novas formas de existência, buscando compreender um mundo novo que encontra-se em processo de invenção e pode trazer como resposta um mundo que seja de todos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DE MEDEIROS, Virgínia. “Histórias da Sexualidade: algumas questões”. In: PEDROSA, A.; MESQUISTA, A. (Org.). Histórias da sexualidade: antologia. São Paulo: MASP, 2017. p. 417-418.
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade: o cuidado de si. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985.
GRUPO GAY DA BAHIA. Relatório 2017 – Pessoas LGBT mortas no Brasil. Disponível em: <https://homofobiamata.files.wordpress.com/2017/12/relatorio-2081.pdf> Acesso em: 30 de outubro de 2018.
HILÁRIO, Leomir Cardoso. Da biopolítica à necropolítica: variações foucaultianas na periferia do capitalismo. “Sapere aude”, Belo Horizonte, v. 7 – n. 12, p. 194-210, Jan./Jun. 2016
LAURETIS, Teresa de. “A tecnologia de gênero”. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque (Org.). Tendências e impasses – o feminismo como crítica da cultura. Rocco, RJ: 1994.
MAMBEMBE, Achille. Políticas da Inimizade. Lisboa: Antígona, 2017.
MOMBAÇA, Jota. “Rumo a uma redistribuição desobediente de gênero e anticolonial da violência!. In: PEDROSA, A.; MESQUISTA, A. (Org.). Histórias da sexualidade: antologia. São Paulo: MASP, 2017. p. 301-310.
NASCIMENTO, Beatriz. O conceito de quilombismo e a resistência afrobrasileira. In: NASCIMENTO, Elisa Larkin. “Sankofa 2. Cultura em Movimento, Matrizes africanas e ativismo negro no Brasil”. Rio de Janeiro: Selo Negro, 2007.
NOTAS
[1] Considerações derivadas de artigo produzido para a disciplina Afroperspectivismo e criação artística: luta, pensamento e imagens em Abdias Nascimento, ministrada por Gilberto Alexandre Sobrinho no Instituto de Artes da Unicamp no segundo semestre de 2018.
[2] https://extra.globo.com/noticias/brasil/brasil-segue-no-primeiro-lugar-em-ranking-de-assassinatos-de-transexuais-23235062.html
*Os corpos dissidentes de gênero nas artes visuais como reação à necropolítica é de 2018 e foi publicado somente na mostra do acervo HIPOCAMPO #6, em outubro de 2019. A imagem de capa dessa publicação é um frame do videoarte Sérgio e Simone (2009), da artista visual baiana Virgínia de Medeiros.
Maíra Freitas (1985, Campinas) é artista, pesquisadora, curadora e arte-educadora. Também mulher cisgênera, parda, lésbica e mãe solo. Sua pesquisa poética parte do desejo de criticizar as relações entre cultura e natureza e desdobra-se em múltiplas linguagens, passando pela arte do vídeo, fotografia, pintura expandida, instalação e arte têxtil. Expôs na
individual Solo da maternagem solo; e nas coletivas Videolatinas; Plantão, Ateliê 397; (Re)existências, ANPAP; e 3a Mostra Unificada. Curou o II Festival Lacração; a exposição coletiva (Cor)po paisagem; e a individual Desvio-Devir, no SESC Sorocaba. Doutoranda em Artes Visuais (Unicamp), dedica-se ao estudo das artes do vídeo e suas relações com gênero, sexualidade e racialidade.