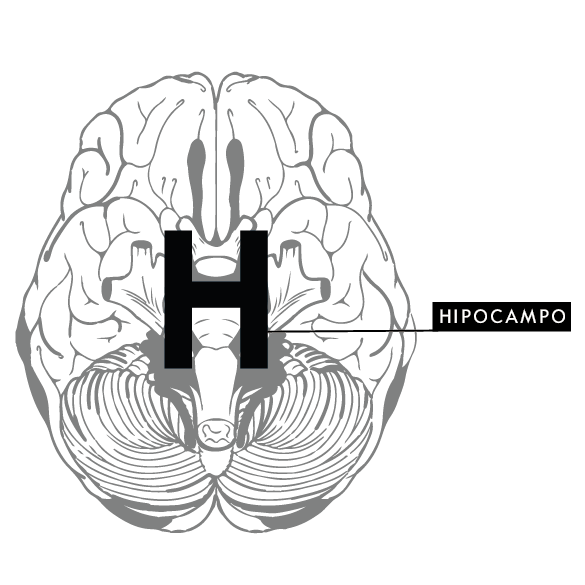“Os homens das cidades em que eu sempre vivera já não conheciam o sentido dessas vozes, de fato, por terem esquecido a linguagem de quem sabe falar com os mortos. A linguagem daqueles que sabem do horror último de ficarem sós e adivinham a angústia dos que imploram que não os deixem sós em tão incerto caminho.”
(Alejo Carpentier, Os passos perdidos)
Há uma história da arte que foi escrita com tinta de colonialismo e subserviência cujo léxico é estreito demais para abarcar todos os modos de ser e estar no mundo, tanto quanto as experiências estésicas (mais do que estéticas) decorrentes dessas múltiplas formas de existir. É possível que quase todas as tragédias ocorridas na curta trajetória da vida humana na Terra foram criadas por propagandas bem-sucedidas baseadas numa ‘Ficção de Superioridade’ que legitimou a aniquilação real e simbólica de culturas complexas e deslumbrantes sob o pretexto de que havia ali naquela violência desmedida uma superioridade alegada que justificava o desvario.
Não à toa, um ‘embranquecimento’ das peles, dos discursos, dos modos de pensar e de sentir e das formas de fazer e exibir arte, alicerçado na ‘ficção de superioridade’ que hierarquizou os mundos, empalideceu também nossa capacidade de reinvenção. Mas o fato é que as Culturas Sulistas do planeta ainda guardam sabedorias milenares cuja a escrita de sua história se deu em linguagens cuja transcendência salvaguarda sua imanência. O fato é que a história da arte dita Ocidental contada a partir de uma mirada eurocêntrica, nem de longe, foi (nem é) capaz de analisar com profundidade as produções artísticas das Américas Latinas (sim, as Américas são plurais) e as experiências estésicas que essas manifestam. Falta-lhe o imaginário e o léxico. Para o acesso do vocabulário estético de algumas dessas produções só é possível a partir de epistemologia própria.
*
A experiência com qualquer trabalho de Farnese de Andrade requer muito mais do que emaranhado de conceitos filosóficos comumente evocados no campo das artes visuais. Há algo em seus trabalhos que escapam do campo da linguagem codificada. Tratam de seduzir para uma experiência sensorial-cognitiva rebuscada cuja a contemporaneidade esqueceu de exercitar. Há muito cedemos ao excesso de olhos e línguas. Um excesso de imagens-comuns cortejadas por um palavrório. A experiência acaba subjugada ao “palpável”. Contudo, para aproximar-se de Farnese é preciso afeição ao ‘Silêncio’ e um pouco de prazer na ‘Morte’.
Cada trabalho do artista parece fundar um campo semântico próprio. Cada elemento escolhido para compor suas colagens acabam por perder o direito de figurar ali com autonomia para vibrar junto aos demais elementos e assim instaurar um novo aporte simbólico. Ainda que seja possível aproximar-se desses trabalhos tentando entender como cada elemento criou ligaduras simbólicas entre si para se transformarem num composto estético que lhe é superior. Ainda assim, grande parte da experiência estaria posta de lado.
Há em Farnese uma mitologia própria e nesse sentido, cada trabalho guarda para si a atitude de existir enquanto relicário. Os ritos de transcendência são parte constituinte do imaginário que compõe seu vocabulário estético. Mesmo que, paradoxalmente, isso venha do desejo de aprisionamento das coisas e das pessoas que lhe são caras. Todo exercício criativo e criador do artista parte de uma pulsar solitário que celebra a própria solidão.
Se não fosse tal ‘embranquecimento’ dos modos de pensar e sentir, que presumiu inferior todo léxico e imaginário simbólico que não fosse europeu, já estaríamos mais afeitos à linguagem dos mortos, e melhor instrumentalizados para entender em Farnese o caráter ritualístico e mágico dos seus trabalhos, entranhados na religiosidade sincrética cujo imaginário está repleto de deuses e semideuses protagonistas de uma cosmogonia particular coisa corriqueira nos seus modos de se conceberem e existirem em muitas culturas de origens indígenas e africanas.
Sempre houve em Farnese o fascínio pelo mar. Não à toa, em parte de sua trajetória, ele debruçou seu fazer artístico a partir de objetos colhidos na praia. Nesse momento, vale dizer que existe uma palavra multilinguística: kalunga, que carrega em si mesma ideia de imensidão e que designa a um só tempo: Deus, a Morte e o Mar. Do verbo ‘oku- lunga’ (ser inteligente) o vocábulo kalunga (Deus) faz parte do dialeto dos Ambós e de outros dialetos da etnia Banto. Kalunga, o Grande Mar, é o condutor das experiências de resgate e reinvenção da Memória. O que pode salvar (ou condenar) a todos do grande Fim. É pelas mãos do Deus-Kalunga que Todos os Seres Viventes são conduzidos e reconduzidos pelos portais do Inimaginável. Talvez algo em nós possa apreender, nesse batuque de suas palmas em que Kalunga faz permitir a existência sincopada: Sim e Não da matéria, que a Vida e a Morte estão mais aproximadas do que em oposição. Como a experiência em Farnese.
*Texto curatorial da exposição de mesmo nome, realizada na Fundação Marcos Amaro (Itu/SP), em 2016.
**A imagem da chamada desta publicação é da obra T. Anunciação, 1978-83. Composição resinada. 35 x 14 x 9 cm.
Ana Luisa Lima (1978), nasceu em Recife-PE, é crítica de arte, escritora e pesquisadora independente com foco em literatura e artes visuais – imagem e narrativa. Faz parte do Conselho Curatorial do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães - MAMAM. Editora da revista Tatuí (2006-2015), participou de debates, promoveu residências editoriais, ministrou laboratórios de escrita em crítica de arte e de análise do discurso em vários estados brasileiros. Cocuradora do projeto ‘Poemas aos homens do nosso tempo – Hilda Hilst em diálogo’, Programa Rede Nacional Funarte 9ª edição, 2013. Criadora da Cigarra Editora com selos para livros de arte e literatura. Autora do livro ’16’39” a extinção do reino deste mundo’, São Paulo-SP, 2015. No audiovisual, lançou seu primeiro curtametragem ‘Zona Habitável’ (13′, Nova Lima – MG, Brasil, 2015).