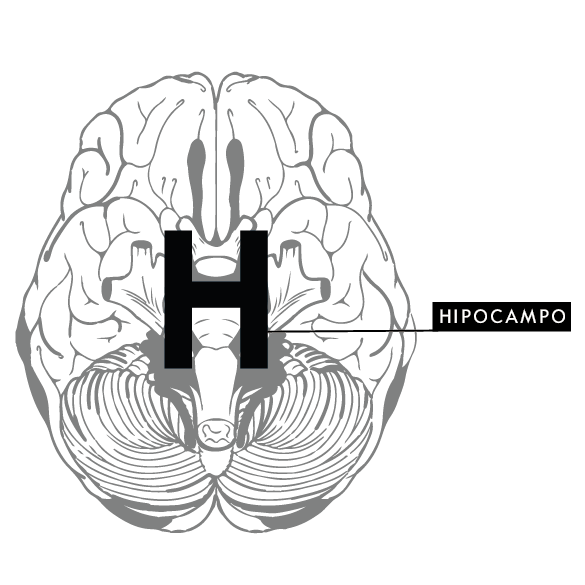ABRIR O CORPO I
A performance tornou-se ligada ao bem. Um efeito da cultura. A maioria dos performers acredita que o gesto performático irá salvaguardar o fim da civilização. Daí o céu visível de artistas bem feitores, metidos em residências que mais se parecem com modelos assistencialistas de ajuda humanitária, do que qualquer outra coisa. A performance na tentativa de ser política, engendra o Estado, evitando que o gesto fuja para lugares pouco habitados. A performance reitera a divisão da cultura e da natureza. Vejam Abramovic, que ridícula, acredita que uma pedra pode salvá-la e purificar a sua própria existência. A “natureza” não trará boas notícias a nós através de uma assimilação barata. A performance é antes de tudo um contra si!
Há um tipo de política na performance que vê o trauma como possível de ser comentado pelo corpo. O corpo então é apenas um comentário daquilo que me ocorre. Uma versão atualizada do artista moderno que falava apenas de si mesmo, porém, agora fala de “seus traumas”. Sim, a experiência da performance é clínica, no entanto não significa que a mesma sirva para curar ou para dar conta de tratar questões universais. Se usamos o dado “universal” no corpo, que então o corpo torne-se fio condutor que desmonta o código! Não acredito que o trauma e a dor residam em algum lugar profundo do corpo onde devam ser resgatados e transformados em discurso pelo gesto da performance. Ativa-se a dor e o sangue também como partilha. Ambos não são minhas dores, são nossas. A performance não separa, somente aglutina e põe no mesmo plano. Esse gesto individual, deixemos para os atores e atrizes. O trauma, assim como a dor, estão fixados no mundo. Temos que encontrar seu percurso e não a cerca que os dividem. Se não a experiência se fecha. É comum encontrar performers tratando do tema da ancestralidade com ares quase que ufanistas, ou até mesmo nacionalistas. Para esse tipo de performance, a memória e o trauma estariam presos na história contada pelos grandes agenciamentos históricos. Sendo estes a única fonte de acesso subjetivo para o corpo vestir quando angustiado por “curar-se”. A história será sempre oficial, o corpo não.
Sola do pé: A experiência é o gesto primeiro para conhecer a sola dos pés, seus dejetos, ou o cheiro que exala daí. Apenas o empirismo é capaz de impregnar a contingência do mundo nisso que chamamos de corpo. No entanto, apreender os dejetos que me pegam, e os que quero pegar no outro, passa por uma experiência de corte, de derrubada. Guilhotinar o império da retina! Descrever o que meus olhos veem, é violentar a mim mesmo e ao outro. A interpretação posterga a invasão radical dos corpos em relação com o cosmo. A interpretação está fundada, nesse caso, por efeitos de ternura e tolerância e microfascismos. Interpretar o outro para seu próprio bem, é enclausurá-lo dentro dos limites do meu espelho “pessoal”. A percepção bloqueia o indefinido porque perceber é sempre raso, na medida em que o que percebo esta limitado por uma literal cadeia de significantes. O ocularcentrismo é a percepção acelerada do corpo, onde cada coisa tem seu lugar, cada signo uma correspondência terna e pacífica. Sentir é de outra ordem, é desordem. Sentir o outro é encontrar o vazio, o amorfo, a penumbra do instante. É ser invadido sem a correspondência do céu de espelhos que bruscamente imponho ao pensamento com conveniência.
Rua: Toda tristeza é um efeito do poder. “Eu não tenho nada a perder, mato qualquer um que aparecer na minha frente”. Morte por todos os lados, se mata no Brasil, o equivalente de uma guerra no Oriente Médio. A fala descrita acima é de um morador de rua que encontrei meses atrás quando saía de um bar. Como se constrói um corpo com vontade de aniquilação? O corpo oco é um efeito do esvaziamento total desse mesmo corpo na Terra. Em movimento ou estático, tudo pode morrer pelas mãos narcisistas do antropologocentrismo. O qual não distingue entre esse ou aquele para incorporar, para introjetar-se, para devir oco-assassino. No capitalismo dos fluxos, desautorizar a vida alheia é uma vontade fincada. O corpo-oco-assassino é uma das únicas experiências possíveis do espectro global, e sua economia dos fluxos, do “cidadão” da metrópole que repete todos os dias as mesmas notas de uma música que não escolheu. Se há mesmo uma crise de presença aí, deve-se também a vários assassinatos — da memória, das referências materiais do mundo, do combatente, da contradição e da negatividade. O corpo-oco-assassino é hiperpositivo, feliz e inabalável. Eleva o outro à imaterialidade, para igualar o mesmo a sua íntima insignificância. É inútil apelar para conceitos universais como os Direitos Humanos para dar conta dessa retirada em massa das singularidades do mundo, pois o universal morreu quando o Real do corpo já não importava mais, ou seja, quando a dor foi relativizada pelo Mercado, e a morte literalmente banida do cotidiano.
Só faz sentido ainda falar do conceito de alteridade se o mesmo fissurar radicalmente o que cria no corpo sua desconexão com os mundos: das coisas, dos humanos, dos animais e dos mortos. Um ponto importante da performance, é que essa, como prática menor de política, de arte, de discurso, (ainda) cria invasões reais nos territórios de existência colonizados pelo corpo-oco-assassino conectado numa só comunidade de trocas.
Abandonar a repercussão do fato e da morte, do dado, do índice e da contabilidade das estatísticas de nossos mortos. Parar o efeito afetivo no corpo que faz do compartilhamento da morte uma resposta à mesma. Destruir o cinismo. Performance como abolição, e não como efeito da Cultura.
ABRIR O CORPO II
Arte e vida: Há tempos se escutam vozes que desejam conectar a arte da vida. Desde os dadaístas até a famosa supressão do objeto na Europa e América do Norte, passando pela segunda onda do concretismo brasileiro com Lygia Clark e Hélio Oiticica. A desmontagem da individuação da arte fincada pelos artistas modernos tornou-se um percurso possível para conectar a arte da vida. A vontade que movia tal fluxo, a meu ver, seria uma espécie de lente de aumento sobre o gesto criativo que fosse capaz de maximizar o mesmo – tal vontade resultaria na sua expansão até lugares impensáveis daquilo que chamamos de vida. O tempo passou, e “conectar a arte da vida” tornou-se fala morta. Ocupa um desses discursos que recorremos para salvar uma discussão que nos livre de pensar sobre nós mesmos. Uma válvula de escape para o paraíso que justifica a pobreza sentimental da arte nos dias de hoje. Suprimir ou abraçar fatalmente o Objeto como o final de todo gesto artístico, é abrir o código da arte para experiências conectivas de contingência. E nesse caso, não me refiro ao voltar-se novamente ao “cotidiano”, outra palavra-cadáver no cemitério dos artistas. Seria como livrar-se de toda fenomenologia que impõe um Público como razão do fazer, como razão do gesto. É também distanciar-se da vontade de hermenêutica e sua caixinha de certezas, a qual tornou o objeto porta-voz de algum sentimento, trauma ou resposta para algo. É livrar-se do quebranto lançado pela modernidade que produz ora para uma finalidade, ora para o nada, ou apenas para encher o mundo de tralha egocêntrica espelhada em si mesma.
Criar: A criação é um ato de poder. Quando se cria, se assume as rédeas da vida. Talvez fosse essa a pulsão que introduzia a crítica à separação da arte da vida: criar como maneira de gerenciar o desejo no corpo em relação com o mundo. Tal agonística na vida só é possível com a vontade de criação. Mas para isso era preciso ter roubado dos artistas sua estratégia de pensamento, plagiar seu insight, ou seja, aquilo que os faziam invocar as potências que o destino porta, lançando a si mesmos na incerteza que é abraçar o inelutável para que se possa coincidir com o desejo. Maximizar o gesto criador é fazer descer o Cristo e fazê-lo limpar o chão — uma compreensão coroada para enfrentar a microfísica do poder que embebeda a alma.
ABRIR O CORPO III
Todas as separações da vida de suas potências de criação, compõem aquilo que chamamos de cultura. Tanto para discernir-nos entre nós mesmos, como para distanciar-se daquilo que povoa a Terra. A cultura é o dispositivo de atomização que segrega o corpo-coisa de todas as outras coisas. Sem ela o objeto não teria sua analítica estruturada pela retina, o que o torna inacessível à sensação. A matéria na modernidade colonialista possui uma finalidade funcional que bloqueia o acesso pela mesma, “literalmente” dizendo, a outros planos. Isso se dá porque o material é submisso à percepção e a um enquadramento correspondente entre a coisa e a linguagem — ligado pelo casamento com o Sujeito e sua substância forjada. Criar a realidade é uma exclusividade dos poderes, os quais compreenderam a vida como algo que precisa ser submetido a separação total de todas as suas partes. Tal operação cria também a própria parte isolada.
O pessoal não é político. Político é corpo em relação: a cultura é a fonte imagética no corpo que sustenta a propriedade privada. Por mais que o modo como nos relacionamos com a mesma seja imaterial, por empilhamento “simbólico”; a cultura entendida como separação entre aquele que possui e o que é possuído é levada ao extremo pela necessidade de poder autoritariamente dar ao Humano o controle sobre a Terra. Um humano está sempre em via de tornar-se o que cobiça, e jamais o será porque seu drama é incapaz de intensificar pelo corpo a existência de outros universos tangenciais, que não o coloquem como o sujeito, ou seja, como o Grande Dono das Terras e das Coisas que as atravessam. Toda sua arte tem um fim: enobrecer sua pobre imagem de dono de tudo, o qual separado das mesmas, agoniza por mais acumulação.
Nenhum corpo organiza sua existência sem uma técnica e sem um agenciamento junto a certos dispositivos tecnológicos, uma certa tecnologia, fora de nossos corpos. Um corpo abastado não é um corpo auto suficiente que supõe uma idealização de autonomia corporal viril, ocidental. Nem aquele dançarino em sua alta performance alcança essa autonomia. Seu sucesso depende do fato oculto de uma opressão-relação de outros corpos distintos ao qual ele se sustenta. Abrir o corpo até a sua despersonalização absoluta é apreender o mesmo sobre uma prótese tecnoviva conectada, cyborguizada de matéria orgânica. A mutação como política por vir explicita desde o agora a vida inserida em um caótico campo de interdependência, que o conceito de normalidade, capacidade, saúde e autonomia menosprezam.
*ABRIR O CORPO I, II e III foram escritos entre 2017 e 2018 e foram publicados somente na mostra do acervo HIPOCAMPO #9, em maio de 2021.
Ali do Espírito Santo nasceu em Cuiabá-MT, mas vive, trabalha e estuda em Porto Alegre-RS. Graduado em Artes Visuais pela UFRGS, dedica-se à performance, à escrita e à criação de fotoimagens. Sua pesquisa se desdobra em suportes variados tendo temas como a hiperficção, as mitologias mágicas e a política como orientações de criação. Foi criador e gestor do projeto Casa Peiro (2015-2017). Em 2016 realizou residência com o grupo de performance La Pocha Nostra, tendo participado de diversas coletivas, entre elas A Sombra da Cruz, na Galeria Península, com curadoria de Gala Berger. Em 2018 participou da performance Capa Canal do artista Hector Zamorra na 17º Bienal do Mercosul, e no mesmo ano realizou o projeto Odoxê na Bronze Residência, sua segunda exposição individual. Em 2019, teve o projeto de exposição “Nada Explícito”contemplado pelo edital do IEAVI em 1o lugar, realizando então sua terceira exposição individual.