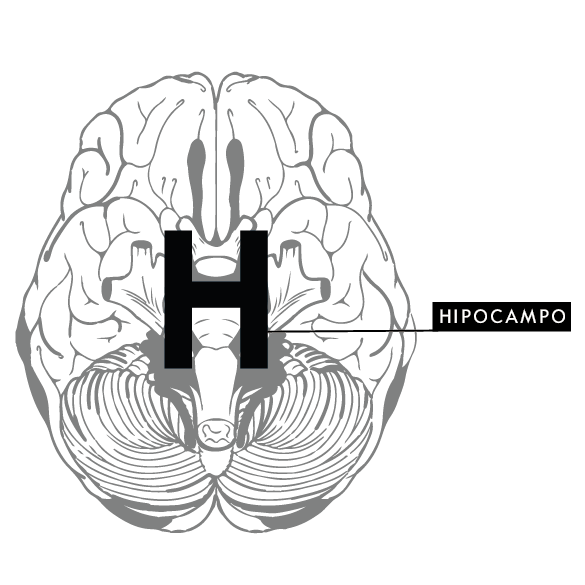Não gosto muito de pronunciar a expressão “crítica de arte”. Para meus ouvidos, soa arcaico, antigo, ultrapassado. E inoperante. Em minha prática, como artista, acontece algumas vezes de produzir textos (como este). Textos quase críticos, às vezes, quando discutem o trabalho de algum artista ou mesmo o meu próprio. Mas não gosto de chamá-los de “crítica de arte” como também não me sinto à vontade no papel de “crítico”. Tentarei aqui abordar este mal-estar e lançar algumas indagações sobre o assunto, não tendo como fugir à pergunta básica sobre qual seria realmente a possibilidade de eficiência da crítica, diante de seu suposto enfraquecimento. Claro que parto de minha própria experiência, com atuação sobretudo no Brasil.
1
Estar atento à escrita, ao uso das palavras, ao aspecto material do texto e seus efeitos no campo do sentido. Prisioneiros das regras da sintaxe e da gramática que somos, um olho ao menos acompanha de perto esta limitação. Sim, já tantos autores construíram e demonstraram possibilidades de invenção de linguagem, seja na poesia, na literatura ou na filosofia (para citar alguns óbvios exemplos: e.e. cummings e Augusto de Campos, James Joyce e Guimarães Rosa, Heidegger, Flusser e Deleuze, respectivamente). A invenção e criação de linguagem como modo de levar a língua até os seus limites talvez seja o único modo de produção de pensamentos novos, tocando as regiões em que ela desliza em linhas de fuga. Caminho que pode se dar através da intervenção na materialidade da palavra (linhagem joyceana-concreta) ou do investimento na lógica do sentido (percurso mais filosófico, a passar por Deleuze e Flusser, entre outros).
2
Crítica de arte, um gênero literário menor frente a outras artes da escrita como a poesia, a novela, o romance e o ensaio? As palavras que costura acumulam um importante grau de potencialidade. Em suas melhores produções, os críticos constroem remissões a diversas áreas do pensamento, realizando leituras pessoais e eficazmente produtivas dos campos da filosofia, psicanálise, antropologia, etc, estabelecendo um quadro de atualidade para suas formulações. Pensemos no Kant de Greenberg ou no Merleau-Ponty de Ferreira Gullar, limitados do ponto de vista de um rigor propriamente filosófico mas extremamente persuasivos na perspectiva de suas intervenções críticas. A força de tais textos reside assim, por um lado, na liberdade do autor-crítico em conectar sua prosa em um amplo espectro de ligações multidisciplinares, estendendo o pensamento como rede de muitas seduções. Por outro, são elaborados como construção de um lugar de proximidade com o trabalho de arte e retiram daí a autoridade de sua fala: sempre o texto crítico interessante investe em uma elaboração mais ou menos sofisticada de sua condição cúmplice às obras – para daí conduzir à produção de valor. É então de uma condição intrinsecamente topológica que esta escrita arranca seu potencial: constituir-se enquanto modalidade literária de construção de espaço, sabendo-se portadora de alguma plasticidade como modo de se posicionar próxima do trabalho de arte. Nada de “distanciamento crítico” como pretensa localização do texto em um ponto de fuga de onde o olho projeta coordenadas totalizadoras de um espaço projetivo – mas sim um olhar que é convidado a espacializar-se para considerar-se participante de qualquer espacialidade outra.
3
O privilégio da escrita sobre arte está em defrontar-se com seu limite, a visualidade: é neste ponto de contato que a linguagem subitamente faz-se frágil, impotente em recuperar o que quer que seja – isso para quem não resiste à tentação de celebrar o mutismo contemplativo, próprio do olhar extasiado e suposto componente das grandes obras de arte. Sinal de reverência àquilo que atualiza o “nada” (assim escreve Vilém Flusser[1]), ritual de respeito àquilo que expande a consciência. Mas depois de John Cage, o silêncio onde está? Ainda que eu pretenda ficar mudo, o súbito ranger da cadeira, o automóvel que passa, a tosse de um vizinho, a batida de meu coração invadem o espaço de contemplação. Trata-se de um instante apenas o intervalo de tempo antes que alguém indague “o que você achou?” e receba de volta apenas sons em colagem indecifrável. Eu poderia estar sob o efeito de drogas e deixar a obra de arte à minha frente dissolver-se em meu sangue, transmutada em neurotransmissores a intervirem na fisiologia do corpo – até que o efeito naturalmente se esgote. A não ser que, como o dadaista Hugo Ball, fujamos aos Alpes – para nada falar, explicar ou responder –, a exigência do discurso nos acossa, implacável.
4
Mas não é isto a que exatamente se propõem os artistas visuais? Os trabalhos de arte deste século radicalizaram a questão da produção de visualidade e estabeleceram novos parâmetros, deslocando o campo para além do olho natural e inventando a artificialidade do olhar: seja a pretensamente “pura” sensação fenomenológica ou a produção de imagens mentais através do conceito, nosso olho tornou-se radicalmente outro (só temos olhos para a alteridade) – entramos no novo milênio sob a onda de uma visualidade potencial sem limites, extendendo-se para além da escala humana num continuum do micro ao macrocosmo, seguidamente trazendo novas matérias ao mundo (daí sua não naturalidade). Um olhar que agora funciona integrado à totalidade do corpo (olho-táctil, olho-territorial) e junto à produção de sentido (olho atento à circulação dos signos e aos circuitos, ideológicos ou não) mas que apela por seu ingresso na ordem do discurso sob a pena de manter-se inacessível, à deriva, em lugar-nenhum.
5
Pode ser vivida como maldição de nossa época, a condição proposta por Foucault de que enunciados e visibilidades encontram-se em pressuposição recíproca. Não ser mais possível calar-se frente ao trabalho de arte não significa que o autor que por ali se aventura deva exercitar-se em psicografar um discurso pronto, latente. Aliás, esta condição não seria, a rigor, portadora da garantia de sentido algum, pré-fabricado ou não. Apenas indica uma condição estrutural, parte da episteme em que estamos mergulhados, do ambiente de pensamento que nos condiciona (sua ecologia, se quisermos). Esta situação se oferece enquanto potencialidade, e não se trata de melhor ou pior administrá-la; talvez a tarefa esteja em uma atitude de engenheiro-construtor que propõe uma maneira de capturar e direcionar parte das forças ali implicadas em composições, combinações, resistências e desvios, em rearranjos que querem ainda sustentar muito do impacto original da presença da obra (sem apagá-la ou rivalizar-se com ela). Neste caso, o sentido se insinua no movimento de construção do texto e não enquanto conteúdo a ele acrescentado. Sentido que é plasmado na escrita e em sua diagramação, na atitude em relação a ela e em seu processo de manuseio.
6
Somente assim existe verdadeiramente sentido em alguma atribuição de valor ao trabalho de arte: não mais tratando-o (o valor) enquanto conteúdo que é acrescido ao texto e por ele referendado mas como traço minuciosamente trabalhado no processo de tecelagem da escrita: texto que vale por sua presença junto à situação escolhida e que ao pensar-se construção (há aí a importante afirmação de uma espacialidade própria) está se fazendo produção de valor – alguém, afinal, ainda pode acreditar na neutralidade da linguagem? A possibilidade desta atitude nasce, sem dúvida, junto ao movimento de autonomia da arte, que anuncia a modernidade: desenvolve-se nesta esfera um campo em que a linguagem cada vez mais se pensa, dobra e redobra, e onde, desde Cézanne, a percepção em idas e vindas percebe a si própria em funcionamento. Logo no século XIX a arte já procura operacionalizar a suspeita do mundo enquanto obra pronta, investindo no campo vivencial e respondendo com obras que mais do que formulações de modelos ou princípios são sobretudo gestos em que se busca efetivamente redescobrir como sobreviver, redirecionar a possibilidade da vida. Impossível não repetir aqui as belas palavras de Deleuze:
Talvez esteja aí o segredo: fazer existir, não julgar. Se julgar é tão repugnante, não é porque tudo se equivale, mas ao contrário porque tudo o que vale só pode fazer-se e distinguir-se desafiando o juízo. Qual juízo de perito, em arte, poderia incidir sobre a obra futura? Não temos porque julgar os demais existentes, mas sentir se eles nos convêm ou desconvêm, isto é, se nos trazem forças ou então nos remetem às misérias da guerra, às pobrezas do sonho, aos rigores da organização.[2]
7
É na arquitetura da escrita e sua invenção enquanto proposição efetiva de valor estabelecido na plasticidade e força específicas da linguagem, com suas propriedades de espacialidade e investimento próprios – e não em seu estabelecimento das condições de exercício do juízo – que reside a particularidade do texto que localiza-se próximo da obra de arte. Neste ponto impõe-se o primeiro sintoma de um mal-estar: a expressão “crítica de arte” carrega em si uma certa tradição de duplo sentido positivista-paternalista, em que transparece o exercício de uma autoridade supostamente performatizada com isenção e objetividade, qual ciência em seu momento pré-einsteiniano. Já no século XIX, Baudelaire proclama seu engajamento – na vida e na arte – contra a rigidez do ponto de fuga único da perspectiva: na experiência da vivência e do choque vai se construindo um novo sujeito-autor que descobre como localizar-se cada vez em um lugar, enxergando pelas frestas e espaços vazios, exigindo ser provocado pelo trabalho de arte. Dentro da dinâmica do circuito de arte que vivenciamos hoje em dia – hiper-institucionalizado, veloz, ágil em seus agenciamentos com o capital – a flexibilidade, deslocamento e fluidez do sujeito tornaram-se um valor a ser incorporado pelo sujeito-autor que aí se constitui enquanto nó de uma rede que o ultrapassa. No exercício da escrita, pode opor resistência ou oferecer fluidez aos acontecimentos que o atravessam e que demarcam seu campo de ação.
8
Brunet/Tiberghien – … pode-se admitir que o crítico de arte possui uma expectativa de vida de dez a vinte anos, não?
Krauss – Sim, em certo sentido.
Brunet/Tiberghien – No fundo, o nome dos grandes críticos de arte está ligado a uma geração de artistas…
Krauss – Eu não sei! …[3]
Estaria o crítico de arte condenado à infância e à adolescência? A iconoclastia deliciosamente irresponsável de quem deseja afirmar-se de súbito, num só lance (administrando um rigor próprio) – ou numa seqüência bem coordenada de gestos – não está assim tão distante de sua prática. Tal estratégia se faz mais eficiente se aparece como movimento de um coletivo, expressão de um grupo que surge com sua proposta diferenciada de intervenção, visando o lance ousado de produzir um desvio no ritmo das coisas já estabelecidas. Uma articulação assim não é tão freqüente, e exige investimento de risco considerável: sobretudo, a tarefa principal consistiria na coragem de um mergulho para ficar imerso na mesma ambiência que a produção, assumindo suas dúvidas e certezas e inventando as linhas por onde irá se processar o impacto. Penso aqui (talvez de forma um pouco idealizada, não importa) na seqüência de gestos[4] que configurou a intervenção Ronaldo Brito + Waltércio Caldas, marcando algumas trilhas férteis para a contemporaneidade da arte brasileira. Quero ressaltar a importância da intensidade dessas ações quase efêmeras, aproximando-se de uma aparição súbita – claridade em meio à noite (nada de luz solar: penso em lanternas e faróis). Nesse momento, estabelece-se uma real possibilidade de expansão: a chance de um desvio do pensamento, que é estampado decisivamente nas mentes e retinas do público como resultado da dupla estratégia de intervenção crítica – plástica e discursiva.
9
Aqui em nosso circuito, as ações devem ser impactantes para ambicionar um grau de eficiência: a fragilidade institucional só parece reagir (isto é, demonstrar o reconhecimento de alguma presença) quando sob o impacto de acontecimentos que tragam já sua mitologia própria. Bem, esta é uma propriedade da sociedade industrial e seus mecanismos da publicidade e do consumo, que o momento pós-industrial só fez descentralizar (mas não anular), com iniciativas em direção às autonomias de grupos e sub-culturas. O crítico de arte, enquanto personagem, participa deste funcionamento e se torna, ele ou ela, também elemento de uma dinâmica auto-indulgente. Eliminando a idéia improdutiva de recuperação de sua neutralidade, o personagem-crítico encontraria possibilidade de uma mais longa e divertida sobrevida (além dos “dez a vinte anos”) na medida em que se propõe um horizonte de deslocamento sempre de encontro aos limites de sua prática.
10
Talvez se inscreva aí a recente eliminação das rígidas divisões que separariam crítico, historiador, teórico e artista. As últimas décadas têm visto estas atividades convergirem e sobreporem espaços de atuação, processo que é fruto de uma outra compreensão das especificidades do campo da arte: a autonomia moderna é agora vivida de forma aberta, enquanto espaço de troca com o ambiente e com os outros territórios. Daí a importância das noções de “membranas” e “superfícies de contato” como formas de se pensar e conceber – e intervir, isto é, criar e inventar – passagens entre regiões heterogêneas; noções que necessitam dos processos de “tradução” e “transdução” como operacionalidade característica. Pode-se argumentar que os papéis apontados acima apresentam, é claro, demandas próprias a partir da especificidade da inserção de cada tipo diferente de produção e de mediação pelo mercado (obra de arte e pesquisa acadêmica, por exemplo); mas sob o ângulo dos processos de pensamento investidos os campos estabelecem encontros bastante férteis. Hélio Oiticica é um exemplo de artista que fez de sua vida e sua obra um encontro com a história da arte: não apenas a linearidade vertiginosa do processo “evolutivo” de sua obra mas sua obsessão de arquivista testemunham este fato (todos sabemos que “linearidade” e “evolução” são traços atribuídos e não a dinâmica dos fatos ou da vida em si; trata-se, então, de uma surpreendente auto-atribuição, que encontramos também em Lygia Clark). Impressiona a convicção com que, ainda no início dos anos 60, HO anuncia sua adesão à “era do fim do quadro” e daí avança por sucessivos desdobramentos. Enquanto artista engajado em processos da contemporaneidade, vivenciou a “crise da história” e a progressiva conscientização de outras temporalidades, não-lineares. E termina por viver esta superposição das temporalidades histórica e existencial como êxtase, em aceleração crescente.
11
Quando o papel do crítico é devorado pelo historiador existe sempre risco da autoridade do crítico ser desdobrada sob a autoridade da História: há então uma perda do sentido de atualidade, em que o acontecimento contemporâneo é esvaziado de sua trama constitutiva, na maioria das vezes não capturável por metodologias avessas ao jogo da complexidade. Entretanto, a aliança crítica/história é capaz de assumir a forma de uma intervenção no circuito de arte quando traz para o debate uma ampliação do campo do discurso especializado, ao abrir-se para as mais diversas alianças entre as disciplinas (crítica, história, psicanálise, lingüística, antropologia, estudos culturais, etc) – tendo como questão central o problema da arte em suas múltiplas relações –, como parece ser o caso pioneiro da revista norte-americana October. Encontra-se ali uma modalidade aberta de texto crítico que não hesita em recorrer a variadas ferramentas acadêmicas como estratégia de captura da obra, apresentada sempre como um feixe de relações em processo. O inevitável formalismo daí decorrente, é certo, também aponta para certos limites de apreensão, passando ao largo daquelas discussões que enfatizam ou a dimensão informacional-mediática ou a inserção cultural-discursiva, próprias de uma vertente do debate da arte nas últimas décadas. É ainda decisivo o problema: sendo possível, por meio do discurso, colocar em funcionamento o sutil aparato tecnológico de um trabalho de arte, que tipo de deslocamento pretende o autor, uma vez que é impossível não ser carregado junto no processo?
12
No Brasil sente-se falta de uma maior disponibilidade dos artistas para com a escrita: poucos arriscam desenvolver em textos ou falas os traços que compõem sua prática – ou melhor: muito poucos assumem, enquanto artistas, o campo discursivo como um território também para o exercício de uma prática (a mesma, claro, deslocada e sob outra forma). Creio que este é um fator de enfraquecimento desta prática – mas não perda de qualidade. De fato, a produção brasileira possui uma eficiente facilidade de deslocamento pelos mais diferentes modos de produção de arte, exibindo uma desenvoltura frente às estratégias contemporâneas e uma disponibilidade ao experimentalismo. Quanto ao deslocamento eficiente, seu sucesso é atestado pela presença cada vez maior da arte brasileira nos espaços do circuito internacional, sendo agenciada de maneira igualmente eficiente por um reduzido número de galerias. Já a disponibilidade experimental encontra grande resistência frente ao mercado local, não contando com as mesmas facilidades de intermediação e administração. Mas tanto num caso como noutro, a ausência de uma tradição de textos de artistas torna por demais frouxa a dinâmica do circuito, transformando-o quase (não completamente, pois qualquer totalização é falsa) em objeto de inteira manipulação por parte dos interesses da (reduzida) economia de um (reduzido) mercado de arte. O engajamento dos artistas junto ao campo discursivo envolveria também o interesse em promover situações em que possam ser instauradas as condições de seu exercício, envolvendo a viabilização de propostas de, por exemplo, produção de publicações e edições de diversos tipos e formatos: o efeito é conceber e instaurar novos circuitos para a circulação de suas idéias e… suas obras. Esta aliança entre produção plástica e projeto discursivo é vista em geral com exagerada cautela pelos artistas brasileiros[5], sobretudo por trazer complicações junto às relações com o mercado – extremamente frágeis e totalmente dependentes de relacionamentos pessoais. Certamente uma maior preocupação de rigor discursivo é fator a trazer alguma complexidade ao trabalho e sua inserção – acreditamos ser este também um valor de aceleração e eficiência da produção, possibilitando-a voar mais longe em suas tramas junto ao pensamento e sua circulação, para além de seu congelamento academizante ou sua fetichização simplificadora pelo mercado.
13
Nada mais inoportuno, hoje, do que se pretender afirmar com clareza a natureza da arte: a quem pertence a primazia da questão, ao artista ou ao “outro” (o crítico)? Toda uma argumentação organiza-se em torno deste filão, pressupondo inicialmente um purismo sensorialista que garantiria a legitimação do território da arte a partir da inteligência da sensação: aí concentrou-se um dia grande parte do poder subversivo e transgressor da era moderna, portador de enorme potencial. Não se pode negar a importância desta demarcação decisiva, por exemplo, para os Suprematistas e Neoconcretos. Ali atua-se, sem dúvida, no espaço singular e autônomo da arte, campo para a antropolgia neoconcreta do corpo-a-corpo, em que se pretende atrair o espectador para transformá-lo em agente de uma corporalidade orgânica, supostamente não-metafórica. Processo do qual Lygia Clark e Hélio Oiticica saberão extrair, mais tarde, os desdobramentos mais radicais, já em fuga deste paradigma mas até o fim tributários do valor da sensorialidade intensiva. Outras correntes, entretanto, desde sempre procuraram construir suas ações numa espécie de tangente a esse campo anterior: não que renegassem valor à experiência sensorial (estética), mas sim construíam-na não mais tão pura, agora afim aos mecanismos de misturas, hibridizações e contaminações. Arte em fuga da estética; arte expressionista; arte conceitual; arte tecnológica&cinética: por aqui ou por ali a pesquisa concentra-se na investigação de novas e inéditas sensações. Marcel Duchamp como aquele que surpreendentemente viu antes que todos as brechas por onde deslizava a arte moderna, entrevendo como funcionava e por onde circulava a obra em seu caminho junto e para além do artista, produzindo uma mitologia que constitui forte campo magnético, qual estranho atrator caótico. O genial francês libertou o discurso para que fluísse simultaneamente ao trabalho e ocupasse com ele significativo espaço físico, tecendo uma imensa rede textual que entrelaça quase que a totalidade de sua obra – é talvez mais densa a trama que se estende entre Grande Vidro e Étant Donnés. Nomes, processos, delírios patafísicos, sinais, símbolos sem qualquer decifração à vista: os trabalhos são suportes e deflagradores do processo discursivo (e por isso mesmo podem situar-se como superfícies-limite) e colocam em ação outras e diversas sensações, trazendo uma franca contestação da estética sensorialista mas ao mesmo tempo produzindo sinais em direção a novas percepções. Daí podermos reconhecer também nas experiências híbridas e não puramente visuais formas legítimas do sentir e do pensar que não colocam em risco a autonomia da arte mas a expandem, em linhas de fuga que tomam diversas direções. Estabelece-se então uma “fenomenologia do conceito”, em que a articulação da malha discursiva com a obra de arte não é excluída de uma sensorialidade ampla.
14
Uma autonomia que talvez se faça sem a necessidade de reivindicar este nome, “arte”, como garantia prévia de sua inserção. Que tipo de espaço estaria assim configurado? Que atividade seria esta afinal? Como poderíamos abordá-la? Se uma responsabilidade para com a cultura e a história implica em não desprezar a tradição, embora sempre reconstruindo-a com o único olhar que possuímos – o de nosso tempo –, o engajamento enquanto produtor, autor, artista, etc (poderíamos ainda investigar outros nomes…), faz com que a cada novo lance este campo seja reconfigurado, continuamente. Quando o consideramos saturado de pré-determinações não há outra opção senão arejá-lo, abrindo janelas para a obtenção de ventos e oxigênio. O segredo, não exclusivo desta prática específica mas da vida como um todo, é saber como obter o sopro que anima e reanima o seu exercício – a partir do qual as coisas valem a pena. Esta genérica determinação direcionada à afirmação da vida parece banal mas, ao contrário, não é pouco. Acreditar no valor de um espaço para o cultivo de paradoxos, inversões, multiplicidades, problematizações, limites, linhas de fuga – em suma, um espaço de complexidade – e trabalhar para sua instauração é o que pode resultar da utilização desta rara e fina tecnologia. Tanto faz se a chamemos ou não de “arte”, quando ocupamos o espaço que oferece de modo a estabelecer ali um fluxo (é nossa estratégia quem dirá: de dentro para fora ou de fora para dentro?), um redemoinho qualquer.
15
Urgentemente ampliar o sentido da crítica, exigindo que se desloque mais próxima ao indeterminado, acompanhando a deriva do trabalho de arte. Quando o espectador, em finais dos anos 50, foi convidado a participar da “obra aberta” e tornar-se quase co-autor de muitas das propostas apresentadas, não era somente a mecânica de seu corpo que estava sendo requisitada. Ao contrário, tratava-se de um reajuste de relações: então o artista reposicionava sua subjetividade enquanto superfície exteriorizante – mero programa –, deixando espaço para outras presenças, persuadidas pelo jogo artístico. O fato de uma série de trabalhos aumentarem cada vez mais a responsabilidade deste espectador participante (ver Baba Antropofágica, 1973, de Lygia Clark e Trading Dirt, 1987, de Allan Kaprow; Espelho com Luz, 1974, de Waltércio Caldas aponta para os excessos deste processo) tem por conseqüência o “aprimoramento crítico” deste espectador, cada vez mais convidado a ser um especialista, ou seja, sofisticar seu discurso dominando conjuntos de termos técnicos e referenciais. Esta é uma situação potencial, que incrementa o campo discursivo que envolve a obra de arte e redimensiona o papel tradicionalmente “pedagógico” do crítico de arte junto ao público. Com o advento das redes mundiais de computadores (internet) a possibilidade de uma intervenção discursiva multiplica-se exponencialmente, uma vez que a troca de mensagens é facilitada com a quebra de certos rituais de hierarquia e qualquer um que esteja conectado pode enviar seu texto instantaneamente para o artista, a galeria, a revista ou o museu, por exemplo. A declaração de Beuys “todo mundo é um artista” fácil e ironicamente se desdobra em “todo mundo é um crítico”.
16
O que equivaleria dizer: “ninguém é crítico, ninguém é artista”. Com certeza, precisamos de artistas, ou melhor, de indivíduos ou grupos dispostos a experimentar e experimentar-se ou, melhor ainda, que construam a disponibilidade investigativa para aplicar o tempo próprio de vida em estratégias e tecnologias que busquem arrancar regiões de realidade a partir de paradoxos. Difícil encontrar a medida e a escala de tais ações, trabalho realizado muitas vezes no percurso de uma vida inteira. No entanto, não precisamos de críticos: a presença de um plantel de personagens, a esperar, como que de plantão, pela emergência de seu objeto de trabalho nos parece patética. Muito mais interessante e significativa seria outro tipo de disponibilidade, complementar àquela comentada acima: a capacidade de constituir-se como alteridades radicais, em deslocamento constante, mas que não se esquivem do confronto e do conflito, colocando em questão toda uma ordem de dispositivos sem os quais o trabalho raramente presentifica-se em toda a sua presença. Aqui a tecnologia seria aquela de amplificação e aceleração – traduções que incrementam a circulação do trabalho –, investigação e detalhamento, operações em cadeia e em série – onde o trabalho é conectado a outros, seja aqui e agora ou em tempos passados –, atividades de construção e determinação do sujeito, etc. Claro que neste processo transparece alguém ou algo, um operador do texto a existir ali (o autor…) e cuja presença não pode ser apagada, mesmo se se configure como simples autômato bem desenvolvido (a caricatura…) ou complexa superfície de proposição e registro a exibir sua localização em uma rede diagramática (quem?).
17
Se o tema amargo da crítica provoca cica, azedume, mal-estar é porque tudo é sintoma de uma sede que já se faz perene. Como produzir algo em um ambiente como o nosso, em que carece a interlocução? O trabalho de arte traz em si a provocação, o convite de quem está chamando para uma conversa – sem a qual aguarda, espera, em atividade. Despejar todas as palavras em uma centrífuga adaptada a nosso clima tropical, chacoalhar, triturar e misturar bem pode ter como resultado a obtenção de textos maravilhosos, junto a outros inexpressivos – dependeremos da probabilidade, apenas uma entre as estratégias possíveis. Seja na floresta tropical úmida, mata atlântica, cerrado, sertão ou pampas, alteridade, aparentemente, não é o que nos falta – de tal modo que redescobrir a riqueza da fala não é tarefa assim tão inviável por aqui. Concluo este texto – realizado na forma de parágrafos em bloco, erguidos numa escrita compacta e em alguns momentos bastante cerrada – acreditando em sua possibilidade de atuar como material fertilizante para a raiz de alguns impasses, tornando-os produtivos.
NOTAS
[1]. Refiro-me sobretudo a Língua e Realidade, São Paulo, Editora Herder, 1963.
[2]. Gilles Deleuze, Para dar um fim ao juízo, in Crítica e Clínica, tradução Peter Pál Pelbart, São Paulo, editora 34, 1997 [Paris, Minuit, 1993], pp. 143-153.
[3] . Diálogo extraído e adaptado de Claire Brunet e Gilles A. Tiberghien, Entrevista com Rosalind Krauss, Rio de Janeiro, Gávea, nº 13, setembro de 1995, pp. 457-473.
[4]. Fora os lances individuais de cada um, seja no campo da escrita ou da produção visual, Brito e Caldas combinaram forças em um livro (Aparelhos, 1977) e alguns artigos (O Boom, o pós-boom e o dis-boom, 1976 e A parte do fogo, 1980, ambos em co-autoria com outros críticos e artistas) – pelo menos.
[5] . Cito novamente o texto O Boom, o pós-boom e o dis-boom, assinado por Carlos Zílio, José Resende, Waltércio Caldas e Ronaldo Brito, como exemplo de uma reflexão sobre o mercado articulada enquanto estratégia de inserção de uma nova prática.
*Cica & sede de crítica foi escrito para a revista Porto Arte (v. 10, n. 19), editada pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a convite de uma de suas editoras, a professora Mônica Zielinsky, sendo publicado em 1999. Também foi publicado em 2001, como introdução do livro Arte Contemporânea Brasileira: texturas, dicções, ficções, estratégias, organizado por Ricardo Basbaum (edição Contracapa). À época em que escreveu este texto, Ricardo atuava como artista plástico, professor-assistente de História da Arte da UERJ e professor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage (RJ). A imagem de capa desta publicação é um registro fotográfico de Ben Symons da obra diagram (the future of disappearance), de Ricardo Basbaum, apresentada na 20th Biennale of Sydney, em 2016.
Ricardo Basbaum (São Paulo, Brasil, 1961). Vive e trabalha no Rio de Janeiro. Atua a partir da investigação da arte como dispositivo de relação e articulação entre experiência sensória, sociabilidade e linguagem. Tem desenvolvido um vocabulário específico para seu trabalho, aplicado de modo particular a cada novo projeto. Participa regularmente de exposições e projetos desde 1981. Exposições individuais recentes incluem sistema-cinema: êxtase & exercício (Galeria Jaqueline Martins, São Paulo, 2018),Você gostaria de participar de uma experiência artística? (Dragão do Mar, Fortaleza, 2018), the production of the artist as collective conversation (Audain Gallery, Vancouver, 2014) e re-projecting (london) (The Showroom, Londres, 2013). Participou da documenta 12 (2007). Teve seu trabalho incluído no 35º Panorama da Arte Brasileira (MAM São Paulo, 2017), na 20ª Bienal de Sydney (2016), A Singular Form (Secession, Vienna, 2014), Disparité et Demande (La Galerie, Noisy-le-Sec, 2014), entre outros eventos. Autor de Manual do artista-etc (Azougue, 2013). Professor Visitante da Universidade de Chicago (2013). Professor do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense.